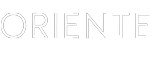- 詳細內容
- Revista
- 點擊數: 152068
António Santos Carvalho
Juiz Conselheiro
1. A independência dos Tribunais pode ser concebida de um ponto de vista estritamente formal, coincidindo com a simples obrigatoriedade das sentenças, ficando os Juízes acorrentados a um certo número de constrangimentos de carreira os quais permitem a suspeita de que as decisões possam vir a ser tiradas sem a liberdade intelectual correspondente a um verdadeiro exercício de um poder do Estado, isto é, viciadas no crédito de imparcialidade, afinal de contas, aquilo que as torna típicas no conjunto ordenador de um Estado de Direito.
2. Por isso mesmo se diz que não há verdadeira independência dos Tribunais sem independência dos Juízes, sendo traços característicos da independência judicial a admissão na carreira a partir de regras objetivas e ordenadas a aferir do mérito profissional, em suma, a exclusão de critérios políticos na nomeação, a inamovibilidade, a irresponsabilidade pela decisão, e segundo alguns autores, a submissão a foro especial (dotadas as instâncias das características de independência e imparcialidade reforçadas) da responsabilidade civil e criminal dos magistrados judiciais, por dolo (ou negligência grosseira) na condução do processo.
Mais do que um problema jurídico, que o é, sem dúvida, trata-se também de uma questão cultural, reportada a uma determinada tradição e a um modo de encarar o valor Justiça, abrindo um confronto onde será possível elencar proximidades e pontos de fuga no debate jus-cultural.
3. Apenas por influência da doutrina de separação dos poderes, surgiu uma primeira, e apesar de tudo meramente formal, afirmação da independência dos juízes1. Assim, Hegel, já teorizador do moderno Estado burocrático, colocava o poder judiciário ao lado do poder de polícia, no quadro do poder governamental. Muito lucidamente, Kock, contemporâneo do filósofo, afirmou: «os juízes têm uma relação muito forte de subordinação pessoal, articulada através de toda uma série de vantagens e desvantagens pessoais, diretas, ou indiretas, quer através de penas disciplinares, de injunções rígidas e intoleráveis e da sujeição aos superiores mais próximos; quer através das transferências; ou por meio das nomeações precárias, simplesmente por destituição». Focou o autor do mesmo modo a subordinação dos juízes por meio da seleção, no momento da nomeação e pelos prémios e recompensas, num cenário, porém, de não terem direito às promoções, nem a serem colocados nos lugares de preferência, ou de não verem reconhecidos o longo tempo de serviço cumprido segundo o dever ou outros méritos.
4. Entretanto os modelos distintos de organização judiciária, segundo as diferentes óticas dos sistemas, desenharam conceitos de independência e responsabilidade judiciais que vão mudando de sentido se relativizam.
O modelo da legal profession, próprio da common law, aproximanos da ideia de professio jurisprudentiae: o papel da carreira é nele praticamente desconhecido. Em Inglaterra, por exemplo, a justiça de I Instância é confiada, na maior parte das vezes, a juízes sem formação jurídica Lower Judges que, por isso, se não destinam a exercer funções nas instâncias últimas, preenchidas por juízes escolhidos de entre os advogados com percurso prestigioso e longo tempo de exercício. Persistem portanto as mesmas relações e modos de ver tradicionais entre the bench e the bar, entre os advogados e juízes, que têm a mesma formação, pertencem à mesma corporação profissional, falam uma linguagem comum.
O princípio da independência judicial, que não é de direito constitucional escrito, em Inglaterra, mas sim nos USA, decorre duma miscelânea de regras legais, jurisprudênciais e costumeiras, reforçadas by professional tradition and public opinion (Smith).
É um facto cultural mais que um facto institucional. Os Juizes não são considerados Crown Servants (Holdsworth): se por um lado não estão sujeitos ao controlo da Coroa, tendo em vista a forma como desempenham as funções, por outro lado, e porque o Soberano está sujeito à lei, os juízes aplicam-na mesmo contra ele.
O exercício da judicatura não tomou assim a fisionomia do emprego público, antes representa o desenvolvimento natural do exercício da advocacia.
A independência dos juízes ingleses correspondeu, antes de mais, a um longo processo em que acabaram por libertar-se de qualquer dependência do poder político. Manifesta-se também na inexistência de qualquer controlo disciplinar ou hierárquico sobre eles.
A independência dos juízes no modelo de legal profession é, portanto, uma independência em sentido forte. Não sendo um valor em si mesma, serviu e serve ora para garantir a imparcialidade do juiz no processo, ora para favorecer, principalmente nos USA, a afirmação de um verdadeiro poder judicial2. É que o sistema político americano, potenciando controlos recíprocos dos poderes do Estado numa perspetiva que vem de Locke3 (que não distinguia poder judiciário do poder executivo), mediada por Blackstone, exige um funcionamento conjunto dos poderes do Estado. Cada um deles requer o concurso de um ou dos outros, sem que se subordinem ou anulem.
5. Em oposição aos valores tradicionais da professio jurisprudentiae, uma organização burocrática da ma- gistratura que se manifesta no juizfuncionário e na separação entre juízes e advogados, surgiu nos países de Lei escrita. Teve influência decisiva no modelo a experiência francesa entre o século XVIII e o princípio do século XIX.
Em primeiro lugar, a Assembleia Constituinte aboliu a patrimonialidade e comércio dos cargos judiciais, a transmissão destes por herança, como era permitido no Ancien Régime, e transformou os juízes franceses em assalariados do Estado4.
Em segundo lugar, a tripartição dos poderes do Estado, consagrada na Constituição de 1791, visava não uma limitação recíproca, mas uma sintonia dos poderes executivo e judicial com o poder legislativo, este legitimado por delegação do povo.
Em terceiro lugar, a Revolução, introduziu, para evitar que o poder judiciário pudesse invadir o legislativo, as instituições do referé legislatif, obrigando o juiz na ausência de texto de lei explícito a dirigir-se, previamente, ao corpo legislativo para obter uma interpretação autêntica, e da Cour de Cassation, tribunal criado junto do Parlamento para anular os julgamentos que contivessem «uma contravenção expressa ao texto da lei».
Seguindo Montesquieu, se o juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei, o princípio da separação de poderes não podia ser acolhido, na verdade, senão no sentido de não lhe reconhecer outra posição que subordinada ao poder legislativo.
Entretanto, as ordens dos advogados foram suprimidas, e o título proibido. Todavia, reconstituídas por Napoleão, breve levaram a um exercício liberal e livre da advocacia, com a consequente retomada da independência por parte dos advogados.
6. Enquanto isto, o modelo do juiz-funcionário institucionalizou-se, após uma muito curta experiência de juiz eletivo. A legislação napoleónica5 estruturou a magistratura de forma hierárquica, análoga à do exército. No cimo da pirâmide está o Grand Juge Ministre de la Justice, Presidente da Cassação e gestor da Organização Judiciária: apesar da separação posterior das suas funções, certo é que o Ministro da Justiça permaneceu a chave do sistema. E foi concebido e criado o Ministério Público, como um dos principais instrumentos de controle dos juízes, magistratura movível, a do Ministério Público, dependente e rigidamente organizada. Ao mesmo tempo, foi estabelecido um controle disciplinar severo dos juízes, e foram centralizados os mecanismos de acesso e progressão na carreira.
Assim, a legislação revolucionária, separado o poder judicial do poder executivo, subordinou-o ao poder legislativo, enquanto a legislação imperial permitiu a intervenção do poder executivo na administração da justiça.
Toqueville criticou com agudeza: A intervenção da justiça na administração não prejudica senão o comércio, enquanto a intervenção da administração na justiça deprava os homens e tende a torná-los ao mesmo tempo revolucionários e servis.
7. Pelo menos a imagem da imparcialidade é prejudicada pelo sistema da burocracia judicial, e dando-se conta disso o subsequente movimento liberal propôs garantir a independência dos juízes perante o poder. No século XX, já, inicia-se por fim um movimento, lento e por vezes conflituoso, que a par da inamovibilidade se dirige para a consagração constitucional da independência da magistratura.
Apesar de tudo, uma certa independência do juiz, por confronto com os outros funcionários do Estado, foi conseguida através da elaboração de estatutos específicos, com garantias suplementares, onde foi prevista uma responsabilidade disciplinar rígida em troca de uma certa imunidade no plano patrimonial6. Mas trata-se de uma independência em sentido fraco por contraposição com o sistema de independência dos juízes da common law.
E mantido, por inércia, nas Constituições, o conceito de «poder judicial», certo é que as magistraturas continentais, menos que constituídas por juízes politicamente estéreis, foram envolvidas numa operação que visou colocá-las ao serviço dos governantes por oposição aos governados. Faz sentido portanto falar-se não em poder judicial mas em serviço de justiça ou em autoridade judiciária, englobada num serviço público de justiça.
8. Entretanto, num sentido evolutivo novo, surgiram os Conselhos Superiores da Magistratura. Tem havido experiências díspares: umas vezes o Conselho tem atribuições tão só disciplinares, outras consultivas, mas também se lhes tem atribuído todas as medidas que direta ou indiretamente podem enfraquecer a independência judicial tais como as nomeações e promoções, as transferências, que são por isso subtraídas ao Ministro da Justiça, do governo.
O dinamismo dalguns dos Conselhos tem favorecido uma progressiva expansão dos poderes que lhes são atribuídos pelas Constituições em direção a um autogoverno dos juízes, garantia da independência e do bom funcionamento da magistratura. A concentração de poderes nos Conselhos Superiores da Magistratura corresponde a um aumento de poderes dos juízes e a uma independência no sentido forte do termo. De qualquer modo, a ausência de meios financeiros à disposição dos Conselhos Superiores da Magistratura arreda-os de um papel decisivo perante a atual crise da justiça e a eficácia do sistema judicial.
9. É neste contexto e sob este foco que a preocupação pela independência dos tribunais e dos juízes da RAEM se cruza com o texto seminal da Declaração Conjunta:
«o poder judicial da Região Administrativa Especial de Macau será atribuído aos Tribunais da Região Administrativa Especial de Macau. O poder de julgamento em última instância na Região Administrativa Especial de Macau será exercido pelo Tribunal de Última Instância da Região Administrativa Especial de Macau. Os Tribunais são independentes no exercício do poder judicial, livres de qualquer interferência e apenas sujeitos à lei. Os juízes gozarão de imunidades apropriadas ao exercício das suas funções. Os juízes da Região Administrativa Especial de Macau serão nomeados pelo Chefe do Executivo sob proposta de uma comissão independente a integrar por juízes, advogados e personalidades de relevo locais. A sua escolha basear-se-á em critérios de qualificação profissional, podendo ser convidados magistrados estrangeiros em quem concorram os requisitos necessários. Os juízes só poderão ser afastados, com fundamento em incapacidade para o exercício das suas funções, ou por conduta incompatível com o desempenho do cargo, pelo Chefe do Executivo, sob proposta de uma instância de julgamento constituída por pelo menos três juízes locais nomeados pelo Presidente do Tribunal de Última Instância. O afastamento dos juízes do Tribunal de Última Instância será decidido pelo Chefe do Executivo sob proposta de uma comissão de julgamento composta por membros do órgão legislativo da Região Administrativa Especial de Macau. Das decisões de nomeação e de afastamento dos juízes do Tribunal de Última Instância da Região Administrativa Especial de Macau será notificado para registo o Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular».
 Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias, de Macau.
Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias, de Macau.11. A independência dos Tribunais consiste basicamente na possibilidade de decidirem com liberdade e imparcialidade. E sendo os juízes, que os constituem, titulares da função de julgar, que lhes cabe, a independência dos juízes é a situação que se verifica quando no momento da decisão não pesam sobre o julgador outros fatores que não os juridicamente adequados a conduzir à legalidade e à justiça da decisão. Mas, como ensinou o Prof. Doutor Castro Mendes7 a independência dos tribunais, como órgãos de soberania, não coincide necessariamente com a independência dos seus titulares. Na verdade, aquela pode ser vista apenas de um ponto de vista estritamente formal tendo como consequência jurídica o acatamento obrigatório das sentenças independentemente das características do processo decisório.
Sob o ponto de vista de um Estado em que as instituições sejam regidas pela preocupação de eliminar o arbítrio, fazendo coincidir a obra do bem comum com a afirmação de pontos de vista plurais num confronto regulado, as coisas não se passarão assim, e à independência dos tribunais corresponde a liberdade no processo decisório, logo a verdadeira independência dos juízes.
Anotemos que os fatores suscetíveis de afetarem a liberdade de julgamento podem existir no confronto do juiz com os demais poderes públicos; com certos movimentos de opinião quer de origem nos grandes meios de comunicação social, quer nos grandes grupos económicos; com uma, outra ou ambas as partes. Têm frequentemente natureza afetiva, ou intelectual e ideológica, cultural ou socio-política. Podem Incidir sobre um juiz em concreto, ou sobre a magistratura no seu conjunto. Àquele cercam-no emocional e pessoalmente, a esta é caso de lhe ameaçarem um futuro de desrespeito e dureza social.
12. Independência e imparcialidade serão aspetos de uma só realidade? Os juízes são independentes para que possam ser imparciais? Ou, são independentes para que possam ser livres, sendo a imparcialidade apenas um dos critérios métricos da referida liberdade de decisão?
Se partirmos do princípio de que os juízes devem ser livres para ser imparciais, a questão de responsabilidade do juiz decairá necessariamente em aspetos disciplinares ou de avaliação deontológica. Na verdade, segundo este ponto de vista, a imparcialidade estará em linha com os valores que estruturam o paradigma ético-profissional, isto é, a imparcialidade, para concretizar-se, depende do modelo donde emerge, do modo característico do seu próprio exercício: saber o que seja ou não a imparcialidade será assim assunto do colégio dos que elegem e escolhem esse objetivo de vida (profissional): serem imparciais.
Se partirmos do princípio de que a independência potência a liberdade de decisão, e que a imparcialidade é critério da medida dessa liberdade, a questão de responsabilidade do juiz derivará necessariamente para um plano onde terão de ser considerados modelos de responsabilidade civil.
Em todo o caso, aquilo a que se poderá chamar prerrogativas da magistratura, como a inamovibilidade e a irresponsabilidade pelas decisões, são medidas de proteção dos juízes que se propõem remover do processo de juízo fatores eventualmente condicionantes da liberdade de despacho e julgamento quer provenham do aparelho de Estado, quer provenham do concreto destinatário da justiça, quer difusamente da própria comunidade.
13. De qualquer das formas, pode avançar-se, desde já, um quadro conceptual de independência da magistratura judicial distinguindo entre independência substancial; independência pessoal; independência coletiva ou externa; independência interna. Por independência substancial, entende-se a circunstância de um juiz, no exercício das suas funções, estar submetido apenas à Lei e à sua consciência. Por independência pessoal, entende-se a circunstância de um juiz ter garantida a inamovibilidade e a perpetuidade do cargo. Por independência coletiva ou externa, entende-se a subtração ao controlo do executivo dos mecanismos de transferências, de fixação das retribuições e reformas e da concretização da disciplina. Por independência interna, entende-se que o juiz não tenha que obedecer direta ou indiretamente a pressões vindas de outros juízes, tendo em vista o exercício jurisprudência.
Os sistemas jurídicos contemporâneos, segundo uma perspetiva comparatística, garantem em maior ou menor medida estes quatro tipos de independência, nos já referidos dois modelos fundamentais da organização da magistratura judicial existentes: O sistema da «legal profession», próprio dos países da Common Law; O sistema de carreira judicial, próprio dos países de Lei escrita.
O primeiro caracteriza-se, como vimos, por uma garantia-extensa da independência dos juízes, não havendo distinção entre juízes e advogados, nem carreira judicial. Os magistrados estão subtraídos ao mecanismo da responsabilização civil, antes se submetem a regras deontológicas e a uma concretização da responsabilidade disciplinar igual para todas as profissões da comunidade dos juristas.
O segundo caracteriza-se por uma garantia-fraca da independência dos juízes, pela diferença profissional entre juízes e advogados, pela existência de uma carreira judicial, estando normalmente os magistrados judiciais submetidos às regras da responsabilidade civil. A responsabilidade disciplinar segue-lhes modelos e procedimentos paralelos aos do funcionalismo público: não têm verdadeira proeminência os juízos de valor deontológico, a disciplina ordena-se pela noção de regularidade do serviço público e menos pela adesão do comportamento às boas normas do exercício profissional. Em suma: a Lei determina os requisitos e as regras de recrutamento dos juízes dos tribunais de I instância; no recrutamento dos juízes dos tribunais judiciais de II instância releva o mérito curricular; o acesso ao Tribunal de Última Instância, faz-se nos termos que a lei determina. E um dos requisitos de qualidade científica, para o exercício das funções de juiz de Direito, é o da frequência, com aproveitamento, de cursos e estágios de formação. Há uma supervisão do mérito dos juízes de Direito, frequente, que influi na progressão da respetiva carreira profissional.
Não sem que este último aspeto do modelo traga problemas práticos para a ordem do dia: longe de ser no sistema um fator de correção de desvios funcionais, de otimização dos serviços ou de unificação tendencial da praxis judiciária pode muito bem ser, antes pelo contrário, um sinal de contradição no seio do próprio poder judicial – «elemento de pressão (nuns casos); freio à independência (noutros); estímulo às mais variadas rivalidades (sempre)».
14. Não sofre dúvida estar em vigor em Macau um catálogo de direitos, liberdades e garantias, e direitos análogos, de última geração, com regime e severa força jurídica. Mas nem é preciso ir por aqui para se defender um perfil de independência judicial, em Macau, radicando-o no direito ao juiz pois decorreria sempre do suposto básico do Estado de Direito que o ordenamento aqui acolhe, sem contradição.
Em todo o caso, a Lei-Básica consagra expressamente a independência dos Tribunais, garantida pela inamovibilidade dos juízes e pela sua não sujeição a quaisquer ordens ou instruções, salvo o dever lógico de acatamento das decisões judiciais proferidas em via de recurso pelos tribunais superiores. Também os juízes não podem ser responsabilizados pelas suas decisões salvo as exceções consagradas na lei, isto é, a título de dolo na condução do processo8.
Estão fixadas as áreas de recrutamento e as qualificações profissionais, quer para os magistrados de primeira, quer de segunda instância, como já vimos, e em moldes que podem considerar-se revestidos de objetividade. Porém, será de diagnosticar um risco de peso externo excessivo nas nomeações ainda que sejam marcadas por uma tradição de lealdade ao foro. Esta resulta dos objetivos político-sociais da Declaração Conjunta, Anexos e Lei-Básica.
E se na verdade é inconveniente um orgão de gestão da magistratura de raiz corporativa, que não salvaguarda a independência interna dos juízes, também uma influência exterior excessiva, por exemplo, do executivo, prejudica a independência externa da magistratura.
15. No elenco dos défices de independência que fomos apresentando, não se vislumbra nenhum maior entrave à independência substancial porém que o de soluções contrárias à perpetuidade do cargo. Que será, com efeito, uma inamovibilidade de curta duração? Não corresponderá mesmo a algo vazio de conteúdo? Podemos aceitar que o juiz de Macau tem a garantia de ser independente perante os demais poderes públicos, os movimentos de opinião, pressões sócio-económicas e as partes litigantes; que a magistratura no seu conjunto é basicamente independente, mas podem ser de recear certos casos singulares, onde não deixe de haver risco da perda da liberdade de decisão.
É que as características de uma independência judicial em sentido fraco, amarrada à tradição em que radica, podem e devem ser corrigidas, garantindo-se aos juízes de Macau o direito a uma carreira, à tranquila e segura perpetuidade do cargo, eliminadas assim interferências negativas de fatores culturais de peso, difíceis de contornar.
16. Entretanto, se uma dinâmica social fabricada impuser uma reclamação pelos residentes de um sistema de tribunais regido pelo modelo e critério do custo-benefício e não pela – digamos assim – madura duração da liberdade de julgar, o ordenamento jurídico de Macau sofrerá as consequências da atracão inevitável pelo modelo da legal profession, que permanece na vizinha Hong Kong.
O que possa significar uma saída deste tipo para a manutenção da tradição jurídica da RAEM que, quer se queira quer não, é o principal fator da sua autonomia, é de todo imprevisível. Espero, portanto, que venha a con- solidar-se no ordenamento e na cultura jurídica de Macau uma verdadeira e forte independência estatutária dos juízes, a que está aberta a Lei-Básica: o alargamento das modalidades de responsabilização civil dos juízes, como válvula de escape ao excesso de sentido do controlo disciplinar, caracteristicamente burocrático, pode contribuir, em definitivo, para a perfeição do edifício legal9.
Bibliografia
-
AAVV, El Tercer Poder: Hacia Una Comprensión Historica de la Justicia Contemporánea, Ed. Johannes-Michael Scholz, 1992.
-
Atas do IX Congresso Mundial de Direito Processual, Relatórios Gerais. Raport General Sur L’Independence et la Responsabilité des Juges et Advocats: Aperçue Historique par Nicola Picardi; Aperçue Comparatif par Shimon Shetreet, 1991.
-
Capelletti, Mauro, Le Pouvoir des juges, Economica, Presse Universitaire d’Aix-Marseille, Paris, 1990.
-
Chen, Albert, The Modernization of Traditional Chinese Legal Culture, Seminário Globalização e Diferença Faculdade de Direito da Universidade de Macau/Fundação Macau, inédito, 1996.
-
Hespanha, António Manuel, O Direito e a Justiça num Contexto de Pluralismo Cultural, in Administração, nº 23, vol. VII, 1994. Holdsworth, W., The Constitutional Position of the Judge, in Law Quartely Review (1932), pp. 28 e ss.
-
Locke, John, Two Treatises of Government. Laslett, P. [ed.], Cambridge: Cambridge University Press, 1988; id., The Works of John Locke. London: Printed for T. Tegg (10 volumes), 1823.
-
Mendes, João de Castro, Nótula Sobre o Artigo 208º da CRP, in Estudos Sobre a Constituição, vol. III., 1979, pp. 635/660. Munro, Colin, Martin Wasik, Sentencing, Judicial Discretion and Training, Sweet and Maxwell, Londres, 1992.
-
Santos, Boaventura de Sousa, A Justiça e a Comunidade em Macau: Problemas Sociais, a Administração Pública e a Organização Comunitária no Contexto da Transição, in Administração, nºs. 13/14, vol. IV, 1991.
-
Santos Carvalho, António A.P., Crítica da Responsabilidade Judicial, ISCTE-IUL, Lisboa 2008. Smith, S. A. de, The Constitutional and Admnistrative Law, London, 1971.
-
Welsley-Smith, Peter, Judges and Judicial Power under The Hong Kong Basic Law, in Guenther Doeker-Mach and Klaus A. Ziegert (Eds.) Law, Legal Culture and Politics in the Twenty First Century, Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2004, pp. 465-486.
-
O poder judicial dizia-se, até então, exercido em nome do Soberano, por tribunais independentes, não sujeitos a outra autoridade que não a da Lei, mas tal não correspondia à realidade vivida.
-
A explosão do poder judicial nos USA reverteu porém na crítica do Government by judiciary.
-
Locke, John, Two Treatises on Government / Book II: An Essay Concerning The True Original, Extent And End Of Civil Government [The Second Essay ] (1680-1690).
-
Art. 2º da Lei de 16/24 de Agosto de 1790.
-
Lei de 20.4.1910, sobre Organização Judiciária.
-
A responsabilidade civil do Juiz, prise à partie, tem sido, a maior parte das vezes, vista como um remédio a ter em conta com precaução.
-
Mendes, João de Castro, Nótula Sobre o Artigo 208º da CRP, in Estudos Sobre a Constituição, III vol., 1979, pp. 635/660.
-
A ação deve ser proposta contra o Estado (RAEM), que acionará, de regresso o magistrado, se assim o entender.
-
Santos Carvalho, António A.P., Crítica da Responsabilidade Judicial, ISCTE-IUL, Lisboa 2008, https://antoniosantoscarvalho.files.wordpress.com/2009/04/asc_slides_190409_vrucha_v42.ppt.
- 詳細內容
- Revista
- 點擊數: 96082
Maria Pinto Pereira Romana
Doutorada em Sociologia com especialização em Sociologia da Literatura
A Relação da Grande Monarquia da China, da autoria do padre Alvaro Semedo, foi, talvez, a segunda obra vivêncial escrita por um missionário português, sobre o Império da China, se considerarmos como primeira O Tratado das Coisas da China do frade Gaspar da Cruz. O jesuíta portu- guês entendeu escrever uma história da China e a história dos primeiros momentos da evangelização do extremo Oriente, partindo da sua vivência e experiência de vinte e dois anos nesse reino. Não se sabe a certeza de ter perdurado um manuscrito1 e, embora havendo a notícia de uma primeira edição, de 1641, em português, intitulada Relação de Propagação e Fé no reino da China e outros adjacentes2, a sua existência passou, ao longo dos tempos, quase despercebida em Portugal.
O padre Álvaro Semedo terá escrito a sua Relação na viagem que efectuou à Europa, entre 1637 e 16443, assinalando, na obra, o ano de 16404 como momento de elaboração. Durante esta sua estadia dá à estampa, em 1642, a primeira versão, em castelhano, desta obra sobre a China, com o título: Imperio de la China i Cultura Evangelica en èl por los Religios de la Compañia de IESVS, preparada por Manuel de Faria e Sousa5. Um ano depois, em 1643, é editada em Roma a versão italiana, com o título: Relatione della Grande Monarchia della Cina6. Sendo a sua estrutura muito semelhante a outras obras congéneres da época, a obra de Semedo está dividida em duas partes: a primeira trata do Estado Temporal da China, e nela se percorre o Reino da China, os espaços e as vivências. A segunda parte aborda a evangelização jesuíta da China, desde as tentativas de S. Francisco Xavier até ao momento da viagem à Europa do padre Semedo; esta parte da obra tem um cunho relatorial semelhante ao das cartas anuas, sendo o objectivo, provavelmente o mesmo, relatar as actividades da Companhia, progressos e vicissitudes, e inclusive justificar algumas situações.
Algumas questões se levantam relativamente ao documento primeiro que consubstancia as edições da Relação da Grande Monarquia da China; o facto de não haver conhecimento do manuscrito na língua materna do padre e a possível existência de um manuscrito em italiano7 corrobora a ideia dos que consideram ter Semedo escrito na língua do Vaticano. Poder-se-á, ainda, aventar a possibilidade de o jesuíta ter escrito em castelhano, dado que era a língua da corte de Lisboa na altura da sua redacção8.
 Álvaro Semedo.
Álvaro Semedo.
Contudo a afirmação de uma edição primeira em português, de 1641, e reiterada por David Mungello, levanos a propor o entendimento de a segunda edição ser o Imperio de la China (1642) e a terceira a Relatione della Grande Monarchia della Cina, do ano seguinte (1643). Mungello refere que esta última edição teria sido impressa a partir da edição em castelhano9; atrevemo-nos a não concordar com esta opinião dado que fizemos o cotejo das duas edições e são muitas as dessemelhanças encontradas, não só na sua denominação, mas, sobretudo, na estrutura e conteúdos. Consideramos, por bem, fazer algumas transcrições elucidativas do diferente, não podendo contudo, em consciência, considerar uma delas como a cópia de um manuscrito primeiro, dado a ele não termos tido acesso.
Ponderamos a pertinência deste cotejo no sentido em que nos poderia elucidar se Álvaro Semedo teria acompanhado a composição destas duas edições, e porventura conseguirmos percecionar a edição que serviu de hipotexto a todas as outras que percorreram a Europa nos séculos seguintes. No entanto estamos convictas que, sem aceder ao manuscrito, qualquer juízo sobre estas edições terá sempre um cariz especulativo.
No que concerne à estrutura da obra, a edição castelhana saiu a público com a seguinte forma, tendo como folha de rosto: «Imperio de la China i Cultura Evangelica en Él, // por los Religios de la Compañia de Jesus // Compuesto por el Padre Alvaro Semmedo de la propia Compañia, natural de la Villa de Nisa en Portugal, Procurador General de la Provincia de la China de donde fue embiado a Roma el Año de 1640. // Publicado por Manuel de Faria i Sousa // Cavallero de la Orden de Christo i de la Casa Real. // DEDICADO // Al Glorioso Padre S. Francisco Xavier, // Religioso de la Compañia de IESUS i Segundo Apostol de la Asia. // Impresso por Juan Sanchez en Madrid // Año de 1642. // A Costa de Pedro Coello Mercader de Libros.».
Traz-nos esta edição, na segunda e terceira folhas, as licenças então necessárias para a sua impressão. A primeira licença, a “licencia del ordinário”, passada pelo Inquisidor, e o respectivo despacho, constitui-se num texto onde são nomeados os censores e respectivos cargos e o seu parecer sobre a obra. Assim, referem que da leitura atenta não foi detectado algo que pusesse em causa os bons costumes e os princípios da religião. Os inquisidores consideram a obra importante não só pela informação contida mas por ser, também, um testemunho fidedigno do trabalho de evangelização do Oriente.
Também, na licença emitida pelo Conselho Real, na terceira folha, são elogiadas a clareza de estilo e elegância narrativa do nosso padre. É, ainda, referido que nada, no conteúdo da obra, impede a sua impressão, constituindo-se até como a mensageira do muito que os missionários da Companhia estavam a conseguir no longínquo império (refira-se que não encontramos licença idêntica na edição italiana).
«Licencia i Privilegio del Consejo Real, que remitiendolo al licenciado Francisco Carode Torres dixo assi: // M.P.S.// He visto este libro de las cosas de la China como V. alteza me lo ha mandado. Hallo que en el na ay cosa que pueda impedir su impression, i que sera de gran cõsuelo a los Catolicos, el ver lo mucho que allà esta fundada la Religion Religion Christana en virtud de las eficazes diligencias de los Religiosos de la compañia Iesus. La disposicion es clara el estilo lleno de elegancia, i de Juizio: las materias raras, y al fin a poco volumen reduzido quanto ay en aquel Imperio digno de memoria, i de que lo entiendam todos. Este es mi parecer // salva en Madrid 12. de Deziembre de 1641.// Francisco Carode Torres.// Suma del Privilegio // Con esta aprovacion se concedio Licecia i Privilegio por quatro años, despachado en el oficio de Diego de Cañizarres i Arteaga.// En 18. de Diziembre de 1641».
Ainda, na terceira folha, encontramos a “Fede Erratas” e a “Tassa” “Con esta Fè de erratas se tassò este libro por los señores del Consejo a quatro maravedis el pliego (...)” datada de 3 de Março de 1642, correspondendo, possivelmente, com a data de saída do livro; e, já na quarta folha, é feita uma advertência sobre o conteúdo da página 222, onde consta o expedimento, feito por Sto. Inácio, de seis religiosos com a embaixada enviada por D. João III, relato que contrasta com as memórias da Companhia que dão conta somente de dois enviados.
A quinta e sexta folhas contêm o texto da Dedicatória a S. Francisco Xavier assinada por Álvaro Semedo, e que se constitui como um laudo ao Santo, o grande empreendedor da evangelização do Extremo Oriente, que morreu às portas da China, sem nela conseguir penetrar, e cuja obra de evangelização foi a regis ad exemplar dos missionários no oriente; tudo isto deixou expresso Semedo ao dedicar ao seu mestre o livro, para o qual pede protecção.
Dedicatória [edição espanhola 1642], quinta folha.
«Al Glorioso Padre S. Francisco Xavier, Resucitador de Muertos, Norte seguro de vivos, segundo apostol de toda la Asia, i segundo Cõpañero de S. Ignacio de Lyolla fundador de la religion de la Compañia de IESUS // Espiritu verdaderamente Apostolico! O Hijo Grande de nuestro Gran Padre Ignacio! O Padre zelosissimo de inumerables hijos de la Iglesia Catolica! A ti solo busco yo por mi Mezenas, i por mi amparo, i por norte mio. Yo indigno deste Habito Sagrado que professaste, i de los intentos soberanos que tuviste, he conseguido fin mertos, lo que tu con tantos acà deseavas conseguir. Yo vi aquellas anchurosas Provincias de la China, que tu tanto pretendiste ver en este Mundo, i que aora estàs viendo, i a mi en ellas, desde essas eternas fillas a donde descansas de tus trabajos, i adonde trabajas por nuestro descanso. (...) tu solo nuestro Caudillo en estas peligrosissimas empressas, ampara el libro; favorece el zelo, i dirige mis passos a seguirte de modo, que si no mereci verte en esse, que es el colmo de todos los Imperios. A ti lo ruego. // Ruegalo a Dios.// Alvaro Semmedo.»
As folhas sexta e sétima contêm o Prólogo, que corresponde ao Proémio da edição italiana, com excepção do último parágrafo. A oitava folha contém uma pequena biografia de Semedo, em tom laudatório, dirigida aos leitores e assinada por Faria e Sousa. A seguir a esta nota aos leitores, inicia-se de imediato, sem índice, a primeira parte do livro designada por «Parte I – Que contiene lo General del Reyno i de sus Provincias, en sitio, i calidades.»
Consideremos agora a edição italiana, também nas primeiras folhas que introduzem a obra. Na folha de rosto consta: «Relatione // Della Grande // Monarchia // Della Cina // Del // P. Alvaro // Semedo Portughese // Della Compagnia // Di Giesu. // Con Privilegio. // Rome // [ilegível] // M. D. CXXXXIII.»; na primeira folha encontra-se a Dedicatória, não a São Francisco Xavier, mas, ao Cardeal Francesco Barberino, Vicecancelário do Vaticano.
Dedicatória [edição italiana 1643], primeira folha.
«All’ Eminent.mo e Reverend.mo // Prencipe // Francesco// Barberino// Della Santa Romana Chiefa Cardinale // Vicecancellario // Tra tante erudite penne, che non solamente nell’Italia, mà per l’Europa tutta sollo il suo propitio nome, Eminentissimo Prencipe, hanno consecratto all’imortalità le loro honrate fatiche, e gli ammirabili sforzi di chiarissimi engegni, non credo se negaràinfimo luogo a questa mia, che dalli confini dell’ Oriente venuta sul merigoio de della Romana Pietà, bench e squallida, e rozza, brama com’ellà può, descrivere li primi alboredella evangélica luce nel vastissimo Regno, ò come essi dicono mondo della Cina risorti. Parmi che l’ampiezza dell’ animo e l’ardentissimo zelo dell’Honor Divino, con quali l’e v. è devenuta non dilo protettrice, ma quasi debitrice à qual si sia opera, e magnanima empreza (...)Suplico humilmente la Divina Maesta, che la protegga e prosperi alla pubica felicità. // Di Vostra Eminenza // humilis Servo // Alvaro Semedo Pri.»
A segunda e terceira folhas apresentam os títulos das partes em que se divide a obra, a quarta folha, desta edição, contém a autorização da Inquisição que contrasta com a versão espanhola pela brevidade do parecer do inquisidor como se poderá constatar de seguida:
[edição italiana, 3ª folha, verso]
«Ho con attentione letta la Relatione del regno della Cina scritta dal padre Alvaro Semedo Procurador de’ padre della Compagnia di Giesu in quel Regno. Descrivi egli con accuratezza il paese, esprime esattamente i costumi, riti, el governo de’ popoli habitanti, e minutamente racconta i proresse della Religione Christiana in quelle parti. Non vi hò trovata cosa che repugni alla verità della Fede Cattolica, nè alla purità de’ costumi; e perciò non potendo apportar al lettore se non notitie curiosi, e utili, la stimo compositione degna d’esser data alle stampa. // il Di 8. Decembre 1642 //Pier-Battista Borghi».
[edição espanhola, 2ª folha]
Licencia del Ordinario
«De comission del Vicario General desta Corte, i su partido, vio este libro el R.P.M. Manuel de Avila de los Clerigos Menores; Consultor de la conmgregacion de los Eminentissimos Señores Cardenales de Indice, Calificador del Consejo de la Inquisicion, i dixo. De Comission de Señor D. Lourenço de Iturrizarra Vicario General desta Corte, he visto cõ particular atencion este libro de las cosas de la China ordenado por el Padre Alvaro Semmedo de la misma compañia. En el no ay cosa cõtra nuestra Fé, i buenas costumbres: antes es una Gustosa, in importanta Relacion, no fabulosa como suelen ser algunas, mas verdadera de las cosas abmirables de aquel estendido i remoto Reyno; como seguramente se puede creer de la religion de su Autor, i de su larga assitência en aquellas partes, trata tambien de los principios, i progressos que ha tenido hasta oy la Predicacion Evangelica allá; (…)Luzgo es obra muy digna de la estampa, i de que se le dè al Publicador della licencia que pide.// En Madrid, i nuestro cõvento del Espiritu Santo de los Clerigos Menores, à 18. de Otubre de 1641 años. Manuel de Avila.// Con esta aprovacion dio su licencia el Ordinario, despachada en el oficio del Notario Ivan Diaz Navarro a 2. de Noviembre de 1641. // Ivan Diaz Navarro.»
A folha contém, ainda, o nome do impressor “Imprimatur: // Fr. Reginaldus Luccarinus, Sacri Palatij Apostolici Magister»; e a quarta folha tem a gravura do Padre Álvaro Semedo. As duas folhas seguintes constituem o Proémio, e a sétima folha contém o índice das duas partes em que se divide a obra.
Num primeiro momento constatamos as diferenças esperadas em duas edições feitas em línguas diversas e em países diferentes, e essas prendem-se com as autorizações de impressão e a organização das páginas iniciais. No que concerne às dedicatórias, a escolha de um destinatá- rio/paradigma da Companhia de Jesus – S. Francisco Xavier, o Apostolo das Índias – na edição espanhola, pode ser entendida como a neces- sidade de justificar à própria Companhia a elaboração da obra, alme- jando aprovação, na medida em que o livro deveria ser entendido como o testemunho da continuação de uma obra que só foi possível graças aos esforços do mestre. Relativamente à edição italiana, torna-se, para nós, natural a escolha de um alto dignatário da Ecclesia, como destinatário da dedicatória, congregando simultaneamente as funções de mecenas e approbatore.
Não são, contudo, estas matérias o cerne da diferença; cotejando o último parágrafo do prólogo10 e o penúltimo do proémio11, partes do texto onde é apresentada a estrutura da obra, verificamos que na impressão castelhana, o livro encontra-se dividido em três partes:
Prólogo [edição espanhola de 1642] fls. 6 e 7, (último parágrafo):
«[...] Abreviarèmos lo possible este discurso, fim que dexemos confusa la noticia.// Dividimosle en tres partes. La primera ceñira lo material del Reyno; como Provincias, Tierras, Frutos. La segunda, como formal, Gente, Letras, Costumbres. La tercera el como tuvo principio La Christandad, sus progressos (...)»12.
Na versão italiana, contudo, a matéria da obra está estruturada em duas partes tal como nos diz o seu Proemio:
Proémio [edição italiana de 1643] pp.1-4 (penúltimo parágrafo):
«[...] Trattanto abbreviando al possibile questa informatione, senza però render confusa la notitia che si pretende, dividiremo l’opera in due Parti. La prima conterrà il materiale del Regno cio è le Provincie, Terre, e Frutti; e per così dire, il Formale ancora, cioè le Genti, le Lettere e li Costumi. La seconda, il Principio della Christianità (...)».
A primeira Parte da versão castelhana titulada: «Parte I – Que contiene lo General del Reyno, i de sus Provincias, en sitio, i calidades» está subdividida em três Capítulos, sendo o primeiro «Del Reyno en comun», o segundo «de las Provincias en Particular, i primero de las Aquilonares» e por fim «De las Provincias del Norte». As designações dos três primeiros Capítulos, da primeira parte em italiano, denominada «Dello Stato Temporale della Cina», têm correspondência imediata com a impressão castelhana, pois, intitulam-se «Del Regno comune»; «Delle provincie in particolare, e prima di quelle di Mezogiorno» e «Delle provincie di Tramontana».
Contudo, o cotejo da segunda parte da obra em castelhano, e da sequência dos capítulos na versão italiana, leva-nos à constatação que a edição de 1642 amálgama matérias que se encontram separadas na edição de 164313: Como pudemos verificar: em castelhano, a matéria de conteúdo do sétimo capítulo com o título de «De Sus Libros i Ciencias» corresponde em italiano a dois capítulos (X e XI) denominados, respectivamente, «Delli Libri e Scienze delli Cinesi» e «Delle Scienze e Arti Liberali in particolare»; o mesmo se constata no capítulo seguinte, o oitavo, da versão castelhana, que tem por título «De sus Cortesias, presentes, e Vanquetes» e aparece-nos tripartido em italiano nos Capítulos XII «Delle cortesie de i Cinesi»; XIII «Delli Banchetti» e XIV «Delli Givochi».
Também o capítulo nono que trata «De los casamientos, i de los entierros» tem a correspondente bipartida italiana nos capítulos décimo quinto «Degli accasamenti» e no décimo sexto «Delli funerali e Sepolture»; assim como, o décimo primeiro capítulo da tradução castelhana «De las setas, de los sacrificios, i de las supersticiones» congrega dois capitulos italianos «Delle sette della Cina» e «Delle Superstitione e Sacrificÿ»14. Constatamos, também, que o último capítulo da primeira parte da Relação italiana inicia a terceira parte do livro castelhano. Refira-se, ainda, que ambas as edições em apreço contêm no final um índice por assunto15.
Mas as diferenças não dizem respeito, somente, à estrutura geral das obras, também, se verificam na divisão dos parágrafos e ao nível dos conteúdos, onde se detectam omissões ou expansões nos textos comparados. São vários os exemplos constatados dos quais retiramos alguns que consideramos pertinente transcrever. Assim, verificamos, a título meramente exemplificativo16, as seguintes diferenças nos conteúdos das duas edições:
No capítulo II17, da edição italiana encontramos a descrição geográfica, com indicações muito pormenorizadas sobre a fauna, flora, e dos povos que habitavam as ilhas Formosa e de Liqueu, e, ainda alusões à ocupação espanhola e holandesa. O padre Semedo refere que esta descrição se fundamenta nas informações do padre Alberto Miceschi, que ali viveu sete anos18. Sobre esta temática não encontramos nenhuma referência na edição espanhola de 1642.
De igual modo constatamos que, no capítulo III da edição italiana há uma referência a Bento de Goes, cujo texto ocupa quatro parágrafos19, constituíndo-se como um breve resumo da viagem deste jesuíta, ao tentar encontrar o reino de Cataio. Na edição espanhola, no capítulo III, a mesma referência constitui cerca de quatro linhas de um parágrafo:
Edição espanhola (1642), 1ª Parte, cap. III, p. 27:
«(...) Este es el camino que llevò Benito de Goes, Hermano nuestro,al ir buscando el Catayo, i parar en la China, porque no ay otro. Todo es de tiesa, i de marisma, menos los ultimos onze dias dèl, distancia poblada de Tartaros.» [...]
Edição italiana (1643), 1ª Parte, cap. III, pp. 24, 25 e 26:
«(...) qui peruenne il nostro fratello Benedetto Goes, cercando il Regno del Cataio, il qual altro non è che la China stessa. Il cui viaggio qui breuemente riferiremo.
§ Partì egli la Quaresima dell’anno 1603. per inuestigare il netto quel che si diceua del Regno del Cataio (...)
§ In questa città, nobilissima scala di quelli Regni, termina la carauana de Mercanti (...)
§ Dunque al suo tempo si partì con dicci caualli (...)
§ Qui mentre si apparecchia al viaggio (...) Tutto il resto del viaggio son paesi di Mori.§
Também, ao cotejar o capítulo III da 2ª Parte da edição castelhana «De la lengua e letras» e o capítulo VI da 1ª Parte da edição italiana «Della lingua e lettere» encontramos uma pequena expansão no texto castelhano; estes segmentos narrativos de carácter explicativo ou valorativo são mais frequentes no texto castelhano do que no italiano no qual se constatam mais expansões de cariz informativo: Vejamos, pois, os exemplos seguintes:
Capítulo III da 2ª Parte da edição castelhana de 1642, p. 54.
«(...) porque siendo la de acà moldes, que a cada pliego impresso se deshazen, es de allà cortada en tablas con que los libros se quedan siempre vivos en las propias oficinas de que salen, para poderse stampar, sin nuevo dispendio de composicion, todas las vezes que se necessitare dello. Estas oficinas son tantas que ha- zen parecer a Anvers qualquier ciudad: pero en la bondad no igualan a la de Venecia.
Es tierra maritima (...)»
Capítulo VI da 1ª Parte da edição italiana de 1643, p. 47.
«(...) perche essendo quella di qua in forma, che ad ogni soglio si disse, quella di là è intagliata in tauole, con le quali i libri restano sempre viui nelle proprie officine; onde ne vienne che si possono stampare senza nuoua spesa di compositione qualunque volta ocorre il bisogno. È paese maritimo (...)».
No capítulo XI «Delle Scienze, & Arti Liberali in particolare» da primeira parte da edição italiana encontramos um segmento textual, no fim do último parágrafo, que não tem correpondência no capítulo VII «De sus Libros i Ciencias», da segunda parte da edição castelhana, onde é tratada a mesma temática; assim como, no capítulo XII «De lo Tocante a la Milicia» da segunda parte da edição castelhana, o oitavo e nono parágrafos, e no correspondente capítulo XX «Della Milicia e dell’Armi de Cinefi», primeira parte da edição italiana, parágrafo décimo quinto, não existe uma completa concordância de conteúdo. Pela comparação de excertos na tradução espanhola encontramos referências que não encontramos na versão italiana e, por seu lado, nesta existem informações que são omissas na primeira; no entanto, não nos atrevemos a afirmar qual a mais próxima de um original manuscrito.
Edição castelhana, 1642, 2ª Parte, cap. VII, p. 84.
[último §] “Agua no prohiben al enfermo, però serà cozida, o chà: el comer si: de modo que si tiene hambre, le dan dieta ligera: i si no, nadanle dan. Dizen, que estando el cuerpo enfermo, el estomago no està sano: i que la decocion de entonces toda es maligna, i contra la salud.
2ª Parte, cap. XII, pp. 134 e 135.
«(...) Pues por qualquier yerro los açotan como niños de escuela. En los exercitos và un letrado, con titulo de Generalissimo sobre todos los Generales. (Nuestra Eu- ropa ha bien experimentado, quantos Martes se perdieran des- de que les pusieron al cuello los Bartulos) 20. (...) Despachan una compañia; (...) vencem siempre los chinas: i acabou-se la comedia, adonde siempre es vitorioso el casamiéto gran lastima para los chinas: Mayor para los Principes Christianos, que tan facilmente pudieran dominar tanto Imperio: que tã. Mas para que es perder el oleo, i la obra?» 21
Edição italiana, 1643, 1ª Parte, pp. 74 e 75.
[último §] “Non prohibiscono l’acqua, però ha de esser corta, ò vero chà: prohibiscono si bene il mangiare; di modo che si l’infermo há fame, há de mangiare leggiermente, e com molta dieta: se non há fame, non si ammazzano che mangi: dicono che stando il corpo infermo, lo stomaco no fa bene l’officio suo, e così la concottione, che all’hora fà, tutt’è maligna, e contro la sanità. La visita gli è subito pagata com prezzo molto moderato, nè ritorna senon lo richiamano, restando così la li- bertà agli infermi per mutar me- dico, e chiamarne altri, come molte volte fanno sino al terzo e quarto giorno, se no veggono effetto delle medicine prese.”
1ª Parte, cap. XX, pp. 126 e 127.
“(...) l’educatione manco che meno, perche così bastonano un soldato per qualche errore, come un fanciullo che và alla scuola. La quinta perche negli eserciti sopra tutti li capitani, etiandio Generali va un Generalissimo e officiale di lettere, il quale va sempre ritirato dal nervo dell’esercito, e dal luogo della bataglia, almeno una giornata di camino: si che per dar ordini sta lontano, e per fuggire in qual sivoglia caso pericoloso sta prontissimo 22(...) Mandano poi li cinesi soldati incontro: incontrandosi toccano le Lance e spade come si fuoli in una comedia; nè si fa più di questo, poco più ò meno.» 23
De igual modo se verifica, na edição castelhana, a integração de pequenos segmentos textuais com função de conectores discursivos permitindo assim uma coerência textual entre capítulos amalgamados. No sentido de um melhor entendimento, permitimo-nos apresentar alguns exemplos. No primeiro capítulo da primeira parte da edição italiana, Semedo faz uma descrição geral do reino da China, e quebra o texto para realçar algumas das suas particularidades. No correspondente primeiro capítulo da primeira parte da edição castelhana, a referida quebra não foi feita, mantendo-se o texto cursivo, sem qualquer destaque.
Também, entre os temas cortesias e banquetes que na edição italiana são tratados em capítulos distintos, na edição castelhana integram um único capítulo assegurando-se a coerência e coesão textual com um pequeno segmento textual. O mesmo se verifica na amálgama dos casamentos e enterros em castelhano, matérias que são tratadas separadamente em ita- liano, conforme se poderá constatar na seguinte transcrição:
Edição castelhana (1642), 1ª Parte, cap. I, p. 6.
“(...) En todas, pero, se vive poco mas amenos, sin que falten largas i felizes vidas, porque ay muchos i vigorosos viejos. Digamos algo en particular.
Es tan copioso este Reyno (...)”.
2ª Parte, cap. VIII «De sus cortesias, presentes, e vanquetes», p. 91.
[fim do § do tema cortesias] “(...) se há de dar al criado un real. De modo, que para llevar èl pocos, seria menester que su amo despendiesse muchos.
[texto de ligação (sublinhado) e inicio imediato da matéria dos banquetes] “Entren aqui los van- quetes que son presentes de que se logra algo com màs seguridad el que dà. Gastate en ellos mucha hacienda (...)”.
2ª Parte, cap. IX «De los casamientos, i de los entierros», p. 104.
[fim do § do tema casamentos] “(...) como son los Infantes Que cum, Chu Hui, Heupe, Chei, Hei.”
[texto de ligação (sublinhado) e início imediato da outra temática] “Si al casar se sigue el nacer, i alnacer el morir, màs indubitable- mente que el nacer al casar: si- de la vida. Puesto que los chinas en mucho coincidieron (...)”.
No que se refere aos capítulos XVIII e XIX, respectivamente «Delle sette della Cina» e «Delle superstitione e sacrificÿ», que têm a sua correspon- dência em castelhano no capítulo XI «De las setas, de los sacrificios, i de las supersticiones», as matérias encontram-se de tal modo mistura- das, na edição de 1642, que a visualização da diferença passaria pela transcrição integral dos referidos capítulos, o que consideramos pouco viável; assim, optamos pela simples menção.
Gostariamos, ainda, de referir que o capítulo XIV «Delli givochi, che vsano li Cinesi», que consta da edição italiana, e cujo tema é desenvolvido em onze parágrafos, não figura na edição castelhana, nem a esta matéria é feita qualquer alusão; também não existe na edição castelhano qualquer referência ao “Testamento del nostro Imperatore Vanlio il quale obedendo al Cielo, he dato il suo Imperio in mano de’Posteri”24, texto que finaliza o capítulo X «Del entierro de la Reyna Madre» da edição italiana.
Edição italiana (1643), 1ª Parte, cap. I, p. 6.
“(...) In tutte però si viue ò meno senza mancarui delle lunghe e felici vite ritrouandouisi molti e vigorosi vecchi.
Dichiamo qualche Cosa in Particolare
E si copioso questo regno (...)”.
1ª Parte, cap. XII «Delle cortesie di Cinesi», p. 83.
[fim do último §] “(...) dicono douersi dare al seruitore vn giulio, e cosi à proportione del resto.”
Cap. XIII «Delli Banchetti», p. 84.
[Inicío do 1º §] Molto tempo e robba si consuma nelli banchetti (...)”.
1ª Parte, cap. XV «Degli accasamenti», p. 90.
[fim do capítulo] “(...) Cosi sono gl’Infanti chiamati Que Cum, Chu Hui, Heupe, Chei, Hei.”
Cap. XVI «Delli funerali e sepolture», p. 90.
[Início do 1º §] “Quantunche i Cinesi in molte cose, di quelle che toceano alla vita (...)”.
Embora não tivessemos esgotada toda esta temática, entendemos que era importante considerar alguns exemplos, ainda que aleatórios, demonstrativos de uma certa singularidade em cada uma das edições. Se considerarmos, no contexto geral da obra, a maior pertinência textual, poderiamos sugerir, a título pessoal, que a forma de estruturação discursiva da edição italiana permite uma melhor organização temática da obra. Por outro lado, o facto de a edição castelhana conter mais ápartes discursivos de cariz valorativo e omitir segmentos significativos de informação sobre os costumes chineses, poderá indicar que se intentava alcançar públicos diferentes. Este ponto de vista não deixa de ser, por enquanto, uma mera especulação.
Após a publicação das duas edições a Relação de Semedo alarga o seu percurso Europeu, mas tendo, sobretudo, como hipotexto a publicação italiana de 1643; uma tradução francesa surge, em 1645, com o título de: Histoire Universelle du Grand Royaume de la Chine e cujo rosto refere: “Composée en italien par le P. Alvarez Semedo, Portuguais, de la Compagnie de Jésus. Et traduite par Louis Coulon, P. Divisée en deux parties. À Paris, chez Sebastien Cramoisy et Gabriel Cramoisy, 1645”25.
Em 1667 é feita, ainda em língua francesa, uma nova edição da obra com o título: Histoire Universelle de La Chine, em cuja folha de rosto consta: «Par le P. Alvarez Semedo, Portugais. Avec l’Histoire de la Guerre des Tartares, Contenant les Revolutions arrivées en ce Grand Royaume, depuis quarante ans: Par le P. Martin Martini. Traduites nouvellement en François. A Lyon, chez Hierosme Prost [...] MDCLXVII»26. No atinente à tradução francesa, consultamos a edição de 166727, e verificamos, que esta é uma tradução feita a partir da primeira edição italiana, contudo, contém uma terceira parte sobre a guerra dos Tártaros, da autoria do padre Martin Martini. A obra denomina-se, conforme a folha de rosto: «Histoire Universelle de la Chine // Divisée en trois Parties// Histoire Universelle de la Chine, par le P. Alvarez Semedo, Portuguais // avec l’ Histoire de la Guerre des Tartares, contenant les revolutions arrivées en ce grand Royaume, depuis quarant ans: Par le P. Martin Martini // Traduits nouvellement en Français // A Lyon // Chez Hierosme Prost, Rüe Merceciere, au Vase D’or // M.D.CLXVII//». A Dedicatória é do impressor, Hierosme Prost, e tem como destinatário, Monsieur Jaques Gayot, conselheiro do Rei. Esta edição não tem o proémio, nem índice final, tendo, contudo, o índice geral e uma pequena nota aos leitores, na quarta página. De um modo geral, pareceu-nos estar, esta tradução, conforme a edição que lhe serviu de base, mantendo na primeira parte, os trinta e um capítulos correspondentes à descrição do Estado Temporal da China e, na segunda parte, os treze capítulos que referem os percursos de evangelização naquele império.
Também se conhece uma versão em língua inglesa da obra do Jesuíta, publicada em Londres, em 1655, onde aparece na folha de rosto: «The History of that Great and Renowned Monarchy of China. Lately written in italian by Alvarez Semedo, a Portuguese. Now put into English by a Person of quality (...) to satisfy the curious, and advance the trade of Great Britain».
De outros percursos dão-nos conta as várias edições ou reimpressões que continuam a surgir na Europa: a versão italiana da obra de Semedo teve uma reimpressão em Roma, em 165328, e outra em Bolonha em 1678. A tradução castelhana teve no mesmo ano uma segunda impressão29 e foi reimpressa, em 1731, pela Officina Herreriana em Lisboa30.
Durante quase um século a divulgação e a recepção da Relação foi uma realidade31, tendo em conta as notícias de várias edições e reimpressões e, por isso, provavelmente tenha servido de fonte a posteriores obras sobre o Império do Meio, nomeadamente no que concerne à obra de António Gouveia, dada à estampa em 1644, e à do Padre Gabriel de Magalhães de 1668, cumprindo simultaneamente algumas das finalidades que consubstanciaram e motivaram a sua feitura:
- Dar a conhecer o trabalho de missionação que a Companhia de Jesus estava a desenvolver no Oriente, informação pertinente se tivermos em conta a pressão que as outras ordens religiosas mantinham no Vaticano para retirar aos Jesuitas a evangelização da Ásia;
- Dar o testemunho real das terras chinesas, repor algumas verdades, completar outras e confirmar a veracidades do que poderia ser tido como fantasia; neste sentido é o seu conhecimento da realidade, a sua vivência de vinte e dois anos na China, a sua fonte preferencial, aquela que o autor referencia explicitamente como substância do narrado.
* Artigo adaptado de parte de um capítulo da dissertação de mestrado da autora, com o título «Da Relação da Grande Monarquia da China».
- O padre Manuel Teixeira refere a possível existência do manuscrito da primeira edição italiana na Wason Collection da Universidade de Cornell, USA. Contudo esta informação carece de confirmação; Manuel Teixeira (1996) - A Igreja em Cantão e Macau; Macau, ICM; p. 184.
- Segundo Agostin e Aloys de Backer, o título original da obra de Semedo seria Relação da Propaganda da Fé no Reyno da China e Outros Adjacentes. Agostin e Aloys de Backer, Bibliothéque de la Companhie de Jésus, Tomo VII, Col. 1114.
- Nomeado Procurador das Missões da China em 1636, Semedo sai de Macau em 1637 rumando a Goa, onde permanece algum tempo, chegando a Lisboa em 1640. Em 1642 estava em Roma e em 1644 retoma o caminho do Extremo Oriente.
- Álvaro Semedo (1643) - Relatione della Grande Monarchia della Cina; p. 75. Os apontamentos biográficos das várias fontes consultadas que nos referem a sua chegada a Portugal no ano de 1640, e que Semedo teria passado por Madrid em 1642. Contudo alguns autores indicam outras datas, cf. Horácio Araújo in António Gouveia - Asia Extrema (edição, Introdução e Notas), pp. 63-54.
- No Prólogo da edição em castelhano, de 1642, Faria e Sousa faz-nos um retrato de Álvaro Semedo: “(...) es sugeto verdaderamente apostolico, lheno de Espiritu para aqellas Santas occupaciones: aqui le vi con el cuerpo, que el alma allá la tenia en ellas: de rostro venerable; casi todo cano; y de sinceridad singular: y finalmente en todo benemerito dee ser Hijo de la Compañia de Jesus (...)”, p. 8.
- “(...) a qual, segundo alguns autores [Paul Pelliot, p.e.], fora previamente revista pelo próprio Semedo (...)” in: Horácio P. Araújo, op. cit., p. 159.
- Cf. Pe Manuel Teixeira, S. J., op. cit.
- Mas também a sua língua de criação, dado que Semedo nasce cinco anos após a subida ao trono de Filipe I. Talvez, para o seu caso, se possa parafrasear Lúcio de Azevedo (1953), quando a propósito de um coevo deste jesuíta, o padre António Vieira, também ele jesuíta, referiu “(...) nesse tempo ainda o sentimento português não tinha despertado (...) Nascera súbdito de rei estranho, e não lhe repugnava achar-se tal (...)”. História de António Vieira, vol. I, Clássica Editora, p. 36. Contudo, também se pode dar o caso de o padre português ter realmente escrito em italiano o seu manuscrito.
- Segundo Mungello: “Semedo wrote such a report in 1640 in Portuguese intitled ‘Relaçao de propagaçao de fé regno da China e outros adjacentes’. He apparently handed the manuscript over to a printer while passing through Lisbon and Madrid in 1642 and the work was published in Portuguese in Madrid in 1641 (...)”. “It was translated into Spanish , then rearranged and given an historical style by Manuel de Faria i Sousa and republished under the title Imperio de la China (...)”. “It was in this form that the text was translated and published in Italian (...)”: In: David E. Mungello (1989) - Curious Land; Honolulu, Univ. Hawaii Press, p. 75.
- Edição castelhana.
- Edição italiana.
- Este parágrafo continua com o texto do último parágrafo da tradução italiana.
- Em Castelhano, os seis primeiros capítulos da segunda parte têm correspondência com os capítulos IV, V, VI, VII, VIII e IX da versão italiana: «Parte - II - Que contiene lo tocante a la Gente de la China, i de sus Costumbres, i Govierno; Cap. I - De las Personas de los Chinas i de su ingenio, i de algunas inclinacion; Cap. II - De su modo de vestir; Cap. III - De la lenga i Letras; Cap. IIII - Del modo de Estudiar, escrivir, i admitir a examen; Cap. V - Como se hazen los examenes, i dàn los Grados; Cap. VI - Del Grado de Doctor.»; (Em italiano) «Cap. IV - Delle persone Cinesi, della loro naturalezza, ingegno e inclinatione; Cap. V - Del modo di vestire; Cap. VI - Della Lingua e Lettere; Cap. VII - Del modo di studiare Scrivere e ammettere, all’ esame; Cap. VIII - Come si faccia L’esame e si conferiscano li gradi; Cap. IX - Del Grado di Dottore.»
- Para não tornar muito exaustivo o texto consideraríamos apenas os números dos capítulos na Relação castelhana e os correspondentes na italiana; assim, o cap. XV (cast.) contém os caps. XXIII e XXIV; o cap. XVI (cast.) contém os cap.XXV, XXVI e XXVII (ital.).
- Na tradução italiana «Tavola delle cose piu Notabilis»; na castelhana: «Tabla de los mas notable contenido en esta Historia de la China».
- Optamos por referir só os exemplos que consideramos de maior pertinência informativa, pois de outra forma correríamos o risco de quase transcrever as duas obras.
- Nas páginas 16 e 17 deste capítulo.
- “Racontò il P. Alberto Miceschi, il quale ui dimorò sechianno (...)”; op cit., p. 16.
- Não faremos a transcrição completa dos parágrafos da edição italiana para não alongar demasiado o texto.
- Esta parte do texto, que está entre parênteses no original, não se encontra na edição italiana. [sublinhado nosso].
- Edição espanhola, p. 135. [sublinhado nosso] omissa na edição italiana.
- Esta última parte do texto é omissa na edição espanhola. [sublinhado nosso].
- Edição italiana, p. 107.
- Este texto, originalmente em chinês, foi vertido para italiano por Semedo, segundo o próprio. Cf. Edição italiana, p. 108.
- Segundo Louis Pfister, SJ, “Le P. De Semedo à composée (...) Relatio de Magna Monarchia Sinarum ou Histoire Universelle de la China, in-4º, Paris 1645. Elle avait été composée en Portuguais. Voici le titre de l’edition Portuguese: Relação da Propagação da Fé no Regno da China e outros Adjacentes, in-4º, Madrid, 1641Manuel de Faria y Sousa a revu cet ouvrage, l’a disposé dans un outre ordre, et l’a publié sous le titre de: Imperio de La China i Cultura Evangélica en él por los Religiosos de la compañia de Jesus, in-4º, Madrid, Jean Sanchez 1642. Cette Histoire a eu plusieurs éditions et diverses traductions. (...)”. Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l’ancienne mission de Chine 1512-1773. Nendeln, Kraus – Thomson org. 1971, 2º vol, reimpressão da edição de Chang-Hai, 1932; p. 41.
- Esta Edição serviu também como referência ao presente trabalho; encontra-se na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, com a cota [UCBG V.T. -8-2-5].
- Editada em Lyon.
- Existe na Biblioteca da Ajuda um exemplar desta reimpressão titulado: Historica Relatione del Regno della Cina, Roma, 1653.
- Existe um exemplar desta reimpressão na Biblioteca da Ajuda, com a seguinte folha de rosto: «Imperio de la China i Cultura evangelica en él por los Religios de la Compañia de Jesus Compuesto por el padre Alvaro Semmedo, Procurador General de la propia Compañia de la China embiado desde allà a Roma el año de 1640. Publicado por Manuel de Faria i Sousa. Cavallero de la Ordem de Christo i de la Casa Real. Ofrecido a D. Marcelino de Faria i Guzman, del Consejo de su Magestad, i su Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Sevilla, i Visitador general de las minas de España. Segunda Impression. impresso por Juan Sanchez en Madrid. Año de 1642 [...]».
- Encontra-se um exemplar na Biblioteca Nacional: Imperio de la China y Cultura Evangelica en Él [...]. Lisboa Occidental, Officina Herreriana 1731. Com a seguinte folha de rosto: «Imperio de la China// y Cultura Evangélica En El,// Por los Religiosos de la Compañia de JESUS,// Sacado de las noticias del Padre Alvaro Semmedo de la propia Compañia,// Por// MANOEL DE FARIA Y SOUSA,// Cavallero de la Orden de Christo, y de la Casa Real,// DEDICADO // a la Magestad Augusta DelRey // D. JUAN V.//Nuestro Senor. // Lisboa Occidental // En la Officina Herreriana. // M. DCCC.XXXL.// Con las lisencias necessarias.»
- Segundo Inocêncio Francisco da Silva: “Foi tão bem aceite esta relação, que todas as nações da Europa se apressaram a transportá-la para os seus idiomas; o que prova pelas traduções que d’ella se fizeram, a saber: Em italiano, com o título: Relazione della grande monarchia della Cina, Roma, 1643, adornada com o retrato do auctor, e reimpressa ibi, 1653; Em Francês, com o título: Histoire Universelle du Grand Royaume de la Chine, composée en italien par le P. Alvares Semmedo, et traduit en notre langue par L. Coulon, Paris, 1645, reimpressa em Lyon, 1667; Em inglez: History of the grande and renowed monarchy of China, London, 1665, fol. illustrada com mappas e retrato do auctor, da qual Barbosa declara ter tido um exemplar, reimpressa ibi, 1665, (...)”. [o título está conforme o texto]. Diccionario Bibliographico Portuguez, Lisboa, ICNM, 1973 [25 Volumes]; Tomo I, p. 50.
- 詳細內容
- Revista
- 點擊數: 78633
Celina Veiga de Oliveira
Investigadora
Que eu, desde a partida,
Não sei onde vou.
Roteiro da vida.
Quem é que o traçou?
Camilo Pessanha, Clepsidra
As questões da diáspora, palavra de origem grega que significa dispersão, têm merecido o interesse, entre outros intelectuais, de sociólogos, historiadores e antropólogos, que procuram entender as causas e os efeitos das migrações históricas ou actuais nas comunidades que a elas tiveram de recorrer.
No seu ensaio “Diasporas”2, o antropólogo e historiador americano James Clifford interroga-se sobre se os discursos pós-coloniais da diáspora representam experiências de deslocamento, de construção de casa longe de casa, e quais as experiências que rejeitam, substituem ou marginalizam. O autor constata não só a ambivalência política das visões da diáspora, sempre enredadas em poderosas histórias globais, como a realidade de as histórias de deslocamento mostrarem somente particularidades ou momentos de diáspora. A História da Humanidade inclui, em todos os tempos, ondas de deslocamento de populações. Macau não foi excepção. O século oitocentista daquele pequeno enclave do sul da China presenciou os primeiros movimentos migratórios da sua população macaense.
Se exceptuarmos África, em todos os outros continentes há representações de Casas de Macau e de Centros Culturais ligados a Macau, que testemunham a diáspora macaense3.
 Casas de Macau no mundo.
Casas de Macau no mundo.
Esta diáspora global de Macau é tanto mais impressionante quanto exíguo o espaço geográfico que lhe deu origem. Macau teve sempre, ao longo da História, uma relevância política, diplomática e civilizacional sem correspondência com a sua irrelevância territorial.
Desde o estabelecimento dos portugueses em meados do século XVI, a pequena península, encravada no sul do império chinês – esse império sem necessidades, muito fechado sobre a sua auto-suficiência –, foi sempre um 'cais' de chegada e de partida de populações variadas, facto que lhe imprimiu a característica de se sentir confortável com a diversidade.
Cantão, situada no delta do rio das Pérolas e único porto da China aberto ao mundo, adquiriu, por esta razão, importância estratégica dentro do Império, com reflexos no quotidiano do estabelecimento português. Era nesta metrópole que se realizavam, em épocas pré-determinadas pelas autoridades imperiais, os negócios com os estrangeiros de diversas nacionalidades. Findo esse tempo, os comerciantes eram obrigados a sair, retirando-se para Macau, onde viviam e geriam as suas firmas comerciais4.
Esta situação alterou-se no século XIX, após a derrota da China nas Guerras do Ópio. A primeira guerra, disputada com a Inglaterra (1839-1841), permitiu o estabelecimento britânico na ilha de Hong Kong e impôs a assinatura do Tratado de Nanquim, em 1842, que obrigou o Celeste Império a abrir ao comércio internacional os chamados Cinco Portos do Tratado: Cantão, Amói, Fuchau, Ningpó e Xangai.
 Casa Garden, actual sede da Fundação Oriente, que pertenceu
Casa Garden, actual sede da Fundação Oriente, que pertenceu
à Companhia Britânica das Índias Orientais.
A segunda, entre 1856 e 1860, de novo entre a Inglaterra e a China, mas com o apoio de outras forças – França, Estados Unidos da América e Rússia –, vergou o Império a aceitar outras medidas: abertura de mais portos ao comércio internacional, liberdade de movimentos para comerciantes e missionários cristãos e criação de legações estrangeiras em Pequim (Tratado de Tianjin).
O ano de 1842, assinalando o triunfo do poder inglês, consagrou uma viragem estrutural na história da região, com reflexos directos no território de Macau, tornando-o dispensável enquanto espaço a partir do qual se estabeleciam os contactos com a China, e iniciando o correlativo movimento das migrações. A dinâmica suscitada pela proximi- dade da poderosa Inglaterra e de outras potências estrangeiras e o enfraquecimento económico do enclave português estimularam os macaenses a procurarem alternativas de vida em cidades portuárias vizinhas, quer como opção para estender negócios familiares, quer pela necessidade de acompanhar as estratégias de expansão de casas comerciais pertencentes a terceiros, normalmente britânicos ou americanos, quer ainda como resposta a períodos de crise económica5. Estas migrações macaenses tiveram como palco espacial o triângulo formado por Macau, território administrado por Portugal, Hong Kong, colónia resultante de um conflito militar, e Xangai, cidade internacional governada por três poderes: a Concessão Internacional, gerida pela elite económica das potências estrangeiras, a Concessão Francesa, administrada por um cônsul francês, e a Cidade Chinesa, sob a tutela do poder mandarínico6. Hong Kong e Xangai emergiram rapidamente como centros do comércio internacional na Ásia Oriental.
 Mapa do Delta do Rio das
Mapa do Delta do Rio das
Pérolas, vendo-se a proximidade
entre Macau e Hong Kong.
O primeiro destino da diáspora de Macau foi a colónia britânica do outro lado do delta, acompanhando a instalação dos ingleses na ilha. Transferiram-se, para o novo empório ocidental, empresas, funcionários e dinheiro. As firmas comerciais inglesas de Macau e de Cantão, uma parte da população marítima e muitos comerciantes hong mudaram de residência, devido à força centrípeta exercida por Hong Kong na dinâmica comercial. Foi uma considerável sangria a que se verificou em Macau, segundo o testemunho de D. Jerónimo José da Mata, bispo de Macau entre 1845 e 1862. Observava o prelado em 1846 que (...) o triste estado, em que se acha este Estabelecimento, cuja riqueza consistia unicamente no comércio, e cuja decadência cresce em proporção do progressivo aumento, que se observa em seu rival, o novo Estabelecimento Inglês em Hong-Kong. Acresce que para lá vão emigrando quotidianamente, e até alguns com as próprias famílias, muitos mancebos de Macau, que acham emprego ali em casas comerciais, e noutros ofícios e mesteres, porque não encontrando, nem tendo aqui meios de vida, vão procurar o pão em país estrangeiro7.
A experiência secular de negócios com a China, o conhecimento da idiossincrasia chinesa (sobretudo mandarínica) e o domínio do cantonense e do inglês constituíram factores determinantes do sucesso dos portugueses de Macau em Hong Kong. Esta comunidade, sedimentada por casamentos entre si, e com fortes vínculos familiares – aqui teem elles paes, maes, irmãs e esposas8–, nunca se desligou culturalmente dos valores lusitanos, como atestam as celebrações do Tricentenário de Camões, em 18809, uma celebração cultural que serviu para vincar a sua identidade em confronto com o peso esmagador da supremacia inglesa.
Xangai foi o destino seguinte da diáspora de Macau. Os primeiros macaenses chegaram a este porto no final da década de 1840, atraídos pelo seu crescente dinamismo económico10. Dotado do estatuto privilegiado de cidade internacional, este porto incluía uma área concessionada às potências ocidentais, governadas por uma autoridade consular, com grande autonomia em relação ao poder de Pequim, nomeadamente o direito de extraterritorialidade. O espaço das concessões em Xangai ficou localizado na margem esquerda do rio Huangpu, onde se instalaram os cais e as alfândegas que passaram a centralizar a actividade comercial da cidade.11
 Mapa da China, assinalando o
Mapa da China, assinalando o
porto de Xangai (Shanghai).
Os portugueses, que ali viviam com as famílias, foram, sobretudo, empregados de comércio e tipógrafos que trabalhavam para patrões estrangeiros. Segundo Alfredo Gomes Dias, a dependência política e económica que caracterizava as relações entre Portugal e a Inglaterra daquele tempo espelhou-se nos estatutos sociais adquiridos pela comunidade britânica e macaense de Xangai. Essa diferença de estatuto social afastou a comunidade macaense dos centros de decisão política e governativa da cidade, ao contrário do que sucedeu em Hong Kong, onde se verificou uma participação relevante de muitos migrantes de Macau em algumas das estruturas administrativas da colónia britânica12.
O termo da Guerra do Pacífico em 1945 e a implantação da República Popular da China em 1949 determinaram o fim das concessões estrangeiras em Xangai, o que provocou uma autêntica debandada, o mesmo sucedendo com Hong Kong após a invasão japonesa em 1941. O número de refugiados acolhidos em Macau foi enorme.
A partir de então, a diáspora macaense dispersou-se por todos os continentes, rompendo com a tradição que tinha como destino as cidades próximas da China. Foram outros os locais escolhidos para uma nova vida, outros os continentes, onde nasceram as comunidades macaenses que ainda hoje, no início do século XXI, continuam a tentar preservar a sua identidade e os vínculos ao seu território de origem: Macau. Assim, os EUA, o Canadá e o Brasil; Portugal e a Grã-Bretanha; África Lusófona e Austrália foram os principais entre muitos territórios por onde se dispersaram as comunidades macaenses13.
Ao longo do movimento migratório, muitos foram os que adquiriram, pela sua personalidade, considerável protagonismo, quer na vizinha colónia britânica, quer na cidade internacional de Xangai. Alguns exemplos:
POLICARPO ANTÓNIO DA COSTA
 Policarpo António da Costa
Policarpo António da Costa
(1837-1884).
(1837-1884), um macaense pouco conhecido dos manuais de História de Macau, evidenciou-se pela posição profissional que alcançou em Hong Kong e pelos seus escritos reveladores de um espírito livre, crítico e empenhado na defesa dos avanços científicos de Oitocentos. Foi secretário da Hongkong, Canton & Macao Steamboat Co., cavaleiro da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa (1883) e membro da Sociedade de Geografia e Antropologia de Estocolmo14. O elitista Club Lusitano de Hong Kong, símbolo da comunidade macaense e que tanto contribuiu para a sua afirmação na estrutura social da colónia, escolheu-o para elaborar as Memórias dos Festejos, uma compilação das intervenções do programa do Tricentenário de Camões, momento alto de afirmação identitária da comunidade portuguesa na ilha britânica.
Policarpo da Costa revelou-se um conhecedor das teses darwinistas, que criaram o contexto para uma outra compreensão da longa caminhada da vida e colocaram em questão pontos fundamentais da compreensão cristã da Criação. Entre os seus escritos, deixou-nos a obra Defeza do Darwinismo, que, como o título sugere, evidencia um alinhamento com as correntes científicas do século XIX.
CARLOS MONTALTO DE JESUS
 Carlos Montalto de Jesus
Carlos Montalto de Jesus
(1863-1927).
(1863-1927), um grande e injustiçado historiador de Macau, nas palavras do investigador António Aresta 15,foi o autor de Historic Macau (1902), uma das mais conhecidas obras sobre a História do território. Na introdução à versão portuguesa, com o título de Macau Histórico, o historiador Carlos Estorninho classificou-a como a glória e o martírio de Montalto de Jesus16. Glória, porque constituiu a sua consagração como historiador e como macaense, granjeando-lhe o respeito da crítica e das autoridades de Macau, que consideraram o livro como o melhor trabalho de conjunto sobre o estabelecimento português na China Meridional.17 Em versão inglesa para garantir uma maior divulgação internacional e o conhecimento do seu conteúdo pelas numerosas comunidades portuguesas de Hong Kong, Xangai e de outras cidades portuárias da região, o livro foi um best-seller e a edição esgotou-se em pouco tempo. Martírio, porque a 2.ª edição, publicada em Macau em 1926 e igualmente em inglês, incluía uns capítulos com críticas a um regime colonial míope e alusões à trágica situação em Portugal, defendendo o autor que Macau fosse colocado sob a tutela providencial da Liga das Nações como salvaguarda contra mais ruína18, o que provocou o repúdio dos que consideraram esta proposta como uma grave ofensa aos valores pátrios. As autoridades de Macau ordenaram a apreensão e a destruição pelo fogo dos exemplares existentes no território. Outros ventos, que não os da República que ele tanto prezava – apesar da decepção que sentiu quanto ao rumo que este regime tomou em Portugal e na China –, sopravam então em Macau, como consequência do novo quadro político saído da revolução de 28 de Maio de 1926.
Montalto de Jesus, que viveu em Hong Kong e em Xangai, escreveu, entre outras obras, The Rise of Shangai (1906) e Historic Shangai (1909). Homem culto, tornou-se sócio correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa a 9 de Novembro de 189619e foi um activo militante do Partido Republicano.
ROGÉRIO HYNDMAN LOBO, conhecido por Sir Roger Lobo
 Rogério Hyndman Lobo
Rogério Hyndman Lobo
(1923-2015).
(1923-2015), veio a afirmar-se, já no nosso tempo, como uma das mais proeminentes personalidades da comunidade macaense em Hong Kong, como empresário, político e filantropo. Foi membro do Conselho Executivo de Hong Kong, (1967-1985), do Conselho Legislativo (1972-1985), do Urban Council, presidente da Caritas, presidente do comité consultivo da Independent Comission Against Corruption, e conselheiro honorário de várias instituições.
A rainha Isabel II fê-lo “Knight Bachelor” em 198520, com o seguinte brasão de armas para si e seus descendentes: Argent, three wolves passant in pale sable langued and cloawde Gules between two pales wavy Azure all between four Bauhinia flowers proper; crest upon a Helm with wreath Argent and Sable two demo wolves couped Sable langued and clawde Gules supporting between them a Bauhinia flower proper. Mantled Sable – doubled Argent as are in the margin.21
ARTUR JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO
 Artur José dos Santos Carneiro
Artur José dos Santos Carneiro
(1905-1963).
(1905-1963), “Art”, para os amigos e admiradores, filho de um rico comerciante de Xangai, cuja vida esteve ligada à música em permanente sintonia. Virtuoso violinista, fez parte da Orquestra Sinfónica Municipal de Xangai. Enveredou depois pelo mundo do jazz, tocando outros instrumentos, como o saxofone-tenor, o clarinete, o acordeão-piano. Viveu e trabalhou como músico em Singapura, Londres, Monte Carlo, Hong Kong (onde esteve até ao início da Guerra do Pacífico) e Macau. No fim da Guerra regressou a Xangai, mas a instabilidade que se vivia obrigou-o a voltar ao seu périplo asiático: Hong Kong, Singapura e Cochim, na Índia. Em 1947, veio com a família para Portugal, tocando no Casino Estoril e no American Club, na base aérea das Lages, nos Açores22.
Músico de grande qualidade, era pai de Roberto Carneiro – professor da Universidade Católica, ministro da Educação, presidente do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, e presidente da Fundação da Escola Portuguesa de Macau, entre 1998 e 2004 – e avô da maestrina Joana Carneiro, a quem legou o gosto pela música.
DEOLINDA DA CONCEIÇÃO
 Deolinda da Conceição
Deolinda da Conceição
(1914-1957).
(1914-1957), escritora e jornalista, autora do livro de contos Cheong-Sam, a Cabaia, que elegeu como tema central a situação da mulher chinesa, é um exemplo carismático da triangularidade relacional entre Macau, Hong Kong e Xangai. Nasceu em Macau, viveu em Xangai e em Hong Kong e regressou a Macau após a invasão da colónia britânica pelo Japão, onde trabalhou como jornalista no jornal Notícias de Macau. Curiosamente, numa das suas crónicas do jornal, Deolinda da Conceição reflecte sobre a idiossincrasia do macaense e, igualmente, sobre o macaense da diáspora:
Há ainda quem neste século das luzes ignore a personalidade do macaense. Descendente daqueles primeiros filhos de Portugal que aqui vieram estabelecer-se, o macaense tem, é certo, nas suas veias sangue de outras gentes (...), mas, longe de o depauperar, esta circunstância valorizou-o grandemente. No campo cultural o macaense tem-se mostrado duma admirável capacidade de assimilação. Raro é aquele que, além da sua, não fale mais duas línguas. Todo o macaense fala o chinês e o inglês, sendo ainda muitos aqueles que manejam com facilidade o francês.
Fora de Macau, espalhados por este vasto Extremo Oriente, os macaenses, formando importantes comunidades, contribuem com o seu esforço e trabalho para a valorização das terras onde foram conquistar o pão de cada dia23.
 Jorge Rangel
Jorge Rangel
(1943 -).
Por último, um macaense nascido em Macau, cuja família é originária de Portugal, Goa e Alemanha, mas com três gerações em Xangai: JORGE RANGEL, ex-membro do Governo de Macau, fundador e presidente do Instituto Internacional de Macau, grande dinamizador da ligação entre as diversas Casas de Macau através de iniciativas que alicerçam e mantêm a identidade dos seus membros. Sobre as suas origens, são de Jorge Rangel estas palavras: O meu avô paterno, António Maria Óscar Rangel (...) nasceu em Xangai e era filho de Ildefonso Rangel, conhecido jurisconsulto, natural de Macau e radicado naquela cidade internacional. Foi ali que também nasceu o meu pai, filho de Marianne von Hartwig Hagedorn, uma baronesa de nacionalidade alemã. (...) Com a queda de Xangai [o meu avô] seguiu para Macau como refugiado, na companhia de muitos portugueses ali generosamente acolhidos – Macau foi sempre a terramãe dos portugueses do Oriente Extremo –, deixando em Xangai para sempre praticamente todos os seus bens. A família de Jorge Rangel tem dez gerações de continuada presença em terras do Extremo Oriente.24.
A China viveu no século XX grandes transformações políticas: a queda da dinastia Cheng, a implantação da República e as turbulências que se lhe seguiram, a invasão japonesa, a guerra entre as forças nacionalistas e maoístas, a implantação da República Popular da China, em 1949, a Revolução Cultural maoísta entre 1966 e 1976, e a política de abertura ao mundo, com o restabelecimento das relações diplomáticas e a aplicação do célebre conceito “Um país, dois sistemas”, que possibilitou a recuperação da soberania sobre Hong Kong em 1997 e sobre Macau em 1999.
Macau assistiu a estas transformações, ora como um espectador atento, ora sofrendo as suas ondas de choque, como sucedeu com os acontecimentos do '1, 2, 3' em 1966, ora como protagonista, durante o Período de Transição entre 1987 e 1999.
Tanto os acontecimentos do '1, 2, 3' como a incerteza sobre o futuro de Macau durante o período de transição foram responsáveis pela partida de muitas famílias macaenses, que procuraram refúgio junto de familiares e de amigos já emigrados, em diversas partes do mundo: Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Inglaterra, Brasil e Portugal. Daí, a existência de Casas e Centros Culturais de Macau em quatro continentes.
Por seu lado, a República Popular da China soube dar crédito aos seus compromissos internacionais. Macau, agora uma Região Administrativa Especial da RPC, continua a ser um território de paz, de procura e de construção de futuro, onde recorrentemente os macaenses da diáspora se reencontram com familiares, amigos, costumes, festividades e memórias.
Bibliografia
- Aresta, António, “Eça de Queiroz e a emigração chinesa de Macau” (a sair).
- Clifford, James, “Diasporas,” in The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art
- (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988).
- Conceição, Deolinda da, “Macau e os Macaenses”, Notícias de Macau, Macau, 1950. Costa, Policarpo António da, Defeza do Darwinismo, Hongkong, 1880.
- Dias, Alfredo Gomes, Diáspora Macaense, Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952), Centro Científico e Cultural de Macau/Fundação Macau, Lisboa, 2014.
- “Entrevista a Jorge Hagedorn Rangel”, Macau, Setembro de 2013.
- Forjaz, Jorge, Famílias Macaenses, Fundação Oriente/Instituto Cultural de Macau/Instituto Português do Oriente, Macau 1996.
- Jesus, Carlos Montalto de, Macau Histórico - Primeira Edição Portuguesa da Versão Apreendida em 1926, Livros do Oriente, Setembro de 1990.
- Rangel, Jorge Hagedorn, Falar de Nós - I, Macau e a Comunidade Macaense - Acontecimentos, Personalidades, Instituições, Diáspora, Legado e Futuro, Instituto Internacional de Macau, Fundação Jorge Álvares, Macau, Dezembro de 2004.
- Conferência proferida no Primeiro Congresso da Sociedade Civil da Diáspora Lusófona, realizado no Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2015. O tema aqui versado refere-se unicamente à diáspora dos portugueses de Macau.
- James Clifford, “Diasporas”, in The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), 244–77.
- Casas e Centros de Macau no mundo: EUROPA - Casa de Macau, com sede em Lisboa; Fundação Casa de Macau, com sede em Lisboa; Centro de Documentação de Macau da Fundação Casa de Macau. ÁSIA - Club Lusitano de Hong Kong, a mais antiga Casa da Diáspora; Clube de Recreio, com sede em Kowloon. OCEANIA - Casa de Macau, com sede em Sidney, Austrália. AMÉRICA - Brasil: Casa de Macau do Rio de Janeiro; Casa de Macau de São Paulo, ambas com sede própria. Canadá: Casa de Macau no Canadá (Toronto); Casa de Macau Vancouver; Macau Cultural Association of Western Canada; Club Amigu di Macau, com coro e orquestra de instrumentos musicais chineses. Estados Unidos da América: União Macaense Americana (UMA), a mais antiga Casa; Casa de Macau de Califórnia; Lusitano Club of California; Macau Cultural Center - MCC (Centro Cultural de Macau, Fremont, California), sede recreativa e social das 3 Casas; Macau Heritage and Cultural Institute, centro de estudos que promove seminários e exposições ligadas a Macau.
AsCasas estão ligadas a Macau através do Conselho das Comunidades Macaenses, com sede em Macau, e de parcerias com outras instituições, como o Instituto Internacional de Macau. - A Casa Garden, que foi sede da Companhia Britânica das Índias Orientais, é um exemplo da opulência que alcançaram muitas dessas firmas estrangeiras. No jardim que a ladeia, diz a tradição que Luís de Camões escreveu parte de Os Lusíadas. Ainda continua a ser um local de celebração do nosso poeta épico.
- Alfredo Gomes Dias, Diáspora Macaense, Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952), 241.
- Idem, 133.
- Idem, 258.
- Idem, 330.
- A nossa communidade elevou-se no conceito dos estrangeiros com a celebração do Tricentenário de Camões. A imprensa local elogiou a festa, Sir John Pope Hennessy escreveu ao nosso estimado compatriota o sr. José Antonio dos Remedios, presidente da Commissão do Tricentenario, pedindo um exemplar da Memória dos Festejos, para ser enviado ao Conde de Kimberley, Ministro das Colónias, a fim de fazer vêr ao Governo Britannico o que póde e val a communidade portuguesa de Hongkong. O sr. Gedeco Nye, que cultiva as letras, pediu quatro exemplares [da Memória dos Festejos] para serem enviados a litteratos seus amigos. O sr. Frederico Degenner, socio correspondente de Anthropologia e Geografia de Stockholmo, pediu tambem um exemplar para aquella sociedade scientifica. – In Defeza do Darwinismo, P. A. da Costa, Hongkong, 1880.
- Entre 1919 e 1927, Xangai atingiu o seu apogeu económico, usufruindo do dinamismo das concessões estrangeiras, do enfraquecimento do poder central de Pequim, da fragilidade da República chinesa, da divisão da sociedade chinesa, que enfrentava agitados movimentos sociais, sobretudo no sul da China, e da I Guerra Mundial (1914-1918), que enfraqueceu as potências estrangeiras, in Alfredo Gomes Dias, 156.
- Sobre este assunto, ver Diáspora Macaense, Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952), de Alfredo Gomes Dias, 143-146. O 1.º consulado a instalar-se foi o inglês (George Balfour), em 1843, numa casa alugada a um rico chinês com interesses também em Hong Kong. Seguiu-se o consulado francês, em 1847 (Charles de Montigny), para a formação da Concessão Francesa em 1849. Criou-se uma municipalidade, que incluía britânicos, americanos e franceses. Em 1863, americanos e ingleses acordaram na constituição de uma concessão única, a Concessão Internacional, de que Paris não fazia parte. A Concessão Francesa era uma área residencial por excelência, sendo considerada a Avenue Joffre, com os seus cafés, boutiques e restaurantes, os Campos Elísios de Xangai. O governador de Macau João Maria Ferreira do Amaral escolheu os representantes da firma britânica Dent, Beale & C.ª, a mais respeitada da China, para serem os nossos cônsules de Xangai, tendo nomeado Mr. Beal (sem pagamento), dando aos macaenses a protecção de um Cônsul pertencente a uma prestigiada casa comercial. Isidoro Francisco de Guimarães, governador de Macau entre 1868 e 1872, informava num ofício para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar o seguinte: Os Cônsules de Portugal na China são empregados que não recebem soldo algum, que poucos ou nenhuns emolumentos disfructam, no mesmo tempo que têm muito trabalho e que frequentissimas vezes se acham envolvidos em questões desagradaveis com os muitos subditos portuguezes que residem nos differentes portos da China, porque todas as cauzas crimes ou civis relativas a estrangeiros são tratados nos respectivos Consulados, e não nos tribunaes do paiz, como acontece na Europa e America (cit. por Alfredo Gomes Dias, 152).
- Idem, 173.
- Idem, 302.
- In Famílias Macaenses, de Jorge Forjaz, Volume I, A-F, Fundação Oriente/Instituto Cultural de Macau/Instituto Português do Oriente, Macau, 1996, 850.
- “Eça de Queiroz e a emigração chinesa de Macau”, de António Aresta.
- Carlos Augusto Gonçalves Estorninho, “Em jeito de Introdução”, in C. A. Montalto de Jesus, Macau Histórico, Livros do Oriente, Macau 1990, 7. A 1.ª edição, de 1902, por Kelly & Walsh. Printers and Publishers, foi escrita em língua inglesa.
- In ob. cit. 7, 8.
- In ob. cit. 334.
- Na proposta de admissão, constam as seguintes personalidades: Lourenço Pereira Marques, macaense, médico e filantropo, que, durante 16 anos, exerceu medicina em Hong Kong, e em Macau, após a reforma (onde trabalhou gratuitamente em prol da população macaense), autor, entre outros escritos, de A Validade do Darwinismo, publicado em Hong Kong, em 1882; Luciano Cordeiro, escritor, historiador, geógrafo e político, um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa e um dos representantes de Portugal na Conferência de Berlim, em 1884/1885; e Alfredo Jorge Vieira Ribeiro, negociante de Hong Kong, sócio ordinário n.º 2508 de 1895 - in Relação Nominal dos Sócios desde a Fundação, em 10 de Novembro de 1875, Precedida de Alguns Documentos Que Interessam à História da Sociedade, ed. Sociedade de Geografia de Lisboa, 1900, 10.
- Esteve ligado a importantes firmas de Hong Kong: P. J. Lobo & C.ª, Ltd, Associated Liquor Distributors (HK) Ltd, Hong Kong Macao Hidrofoil Co., Ltd, Johnson & Johnson (HK) Ltd, Martell Far East Trading Ltd, Seagram Far East, Somec Group of Companies, Kjeldsen & Co. (HK) Ltd., Perrin Cooper & Co. Ldt., e Pictet (Asia) Ltd.) – In Famílias Macaenses, de Jorge Forjaz, Volume I, A-F, Fundação Oriente/Instituto Cultural de Macau/Instituto Português do Oriente, Macau, 1996.
- Carta de brasão de armas, de 9.1.1987, in Famílias Macaenses, de Jorge Forjaz, Volume II, G-P, Fundação Oriente/Instituto Cultural de Macau/Instituto Português do Oriente, Macau, 1996, 357.
- In Famílias Macaenses, de Jorge Forjaz, Volume I, A-F, Fundação Oriente/Instituto Cultural de Macau/Instituto Português do Oriente, Macau, 1996, 671-672.
- “Macau e os Macaenses”, de Deolinda da Conceição, in Notícias de Macau, 1950.
- Entrevista a Jorge Hagedorn Rangel em Macau, Setembro de 2013.
- 詳細內容
- Revista
- 點擊數: 76063
Margarida Conde
Mestre em Língua e Cultura Portuguesas, na variante de Estudos Linguísticos pela Universidade de Macau
I. PROPÓSITO
“O lugar onde está a família é o sítio de onde se é.”
In, O Olhar de Henrique de Senna Fernandes: Fragmentos
Levando em conta o enorme sucesso que Senna Fernandes obteve primeiro em Macau, posteriormente em Portugal e no exterior mundo lusófono, nomeadamente no Brasil, pretendemos, com este trabalho, destacar alguns pontos centrais da identidade macaense concebida pelo romancista, através da construção de personagens e de espaços e ambiências de Macau que servem essencialmente de pano de fundo aos percursos das personagens centrais – Leontina das Dores e Lucas Perene –, e ao estatuto social de duas famílias de relevo, protagonizadas nesta narrativa.
As conjunturas ambientais, que destacamos no romance “Os Dores”, evidenciam o aspeto económico e sociocultural das personagens e, por contiguidade, as vertentes por que tem passado a sociedade macaense, protagonizada através das figuras em questão. O enfoque do nosso trabalho tem como propósito o esboço de um retrato da comunidade e simultaneamente da própria cidade que, com os seus macros e micros espaços, permite ser apontada como uma real protagonista. Entendemos que estudar as questões inerentes à significação do espaço pode levar também ao delineamento, mesmo que de forma não factual, de um panorama histórico da realidade social do início do século XX, que Senna Fernandes recria de uma forma artística, configurando espaços anteriores aos atuais ou, ainda, o retrato de alguns aspetos de Macau que têm prevalecido perante a modernidade.
Adotamos o conceito de Lins na distinção entre espaço e ambiência: “Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa.”1 Seguimos António Dimas na elucidação sobre o conceito de Lins quando diz que “o espaço é denotado; a ambientação é conotada. O primeiro é patente e explícito; o segundo é subjacente e implícito. O primeiro contém dados de realidade que, numa instância posterior, podem alcançar uma dimensão simbólica.” 2
II. RETRATOS DE UMA COMUNIDADE
1. Espaço e condição social das famílias protagonizadas
Macau aparece retratado em microcosmos sociais onde as personagens e respetivas famílias são neles distribuídas segundo dois princípios de diferenciação: o económico e o cultural. A relação entre espaço e a condição social é bem notória, logo no início da obra, quando a protagonista, Leontina, é descoberta por Policarpo e pelo seu filho, Floriano: “Que mistério, aquele, o de uma garotita de traços caucásicos, no meio da petizada chinesa?”; para mais adiante se vincar a urgência de “Tirá-la daquele ambiente”3 e integrá-la num espaço adequado à sua natureza étnica.
Salientamos que o tempo histórico é o da época em que a cidade se dividia em duas zonas: a cristã e a chinesa, com contornos físicos bem delineados, assim como as ambiências humanas e culturais bem definidas. As duas comunidades habitavam espaços próprios que não se cruzavam, mas que no decorrer da narrativa se vão entrelaçando conforme a miscigenação vai sucedendo, situação de Angélica, irmã de Lucas Perene, que desapareceu na cidade chinesa com um jovem violinista chinês; e nas situações de marginalização de personagens, caso de Lucas Perene e Leontina das Dores. Do mesmo modo, as famílias macaenses são integradas também num espaço condizente ao seu status económico e social.
 Igreja de Santo Agostinho.
Igreja de Santo Agostinho.
1.1. Nesta sequência, o lar da família Policarpo, para onde foi levada Leontina, protagonista central, na condição de crioula da casa, aparece-nos situado na Calçada do Tronco Velho e a descrição dos trajetos diários, efetuados em espaços circundantes da cidade, como a Rua Central, a zona dos Mouros e a Igreja de Sto. Agostinho, indicia que os Policarpos são delineados pelo autor como uma família de classe média. Assim o revela também a descrição da sua habitação constituída por rés-dochão e primeiro andar, com pedra de granito à entrada, indicadores de certa abastança e posição social.4
 Rua do Padre António.
Rua do Padre António.
E dentro de casa, tal como na sociedade, perduram as hierarquias. Na casa de dois pisos dividida em duas alas, o narrador focaliza a ala das mulheres, com destaque para o quarto das filhas, o quarto de costura, a cozinha, o quintal e um quarto de arrecadação paredes-meias com a dependência das criadas, o grupo habitacional mais baixo. O quarto de Leontina, cubículo, onde cabia uma cama de ferro estreita e um armário diminuto, localiza-se numa divisória à parte, não se enquadrando em nenhum dos grupos sociais que a habitam: ”A única diferença que tinha dos verdadeiros criados, era de comer na cozinha, numa mesinha à parte, os restos da comida dos patrões, porque era uma crioulabranca.” 5
1.2. A mansão dos Madrugas, situada na rua do Padre António, zona de macaenses enriquecidos, chama a atenção pela beleza arquitetónica como convém a uma classe de estirpe superior. É a propósito do convite para jantar de D. Emília Madruga, feito ao casal Policarpo, que o narrador nos descreve a habitação com os mais ínfimos detalhes: toda ela era branca, uma imitação vaga da casa minhota, com três pisos e muitas janelas pintadas de verde-azeitona, sendo o último um terraço, onde se situam os aposentos do casal e da filha Elfrida – personagem dotada de intervenção mínima na ação –, mas que vai ocupar alguma relevância na estrutura narrativa por funcionar como um impedimento à realização dos sonhos de Floriano.
A representatividade histórico-social desta família macaense é assinalada pela existência de um brasão a meio do jardim, por um portão de ferro forjado, escadaria de granito, reveladora de opulência e riqueza, e alpendre suportado por duas pedras também de granito. A porta de entrada de teca lavrada e uma aldrava na porta, à semelhança das casas senhoriais portuguesas, constituem símbolos de um elevado estatuto social e económico que se enaltece através da arte de bem receber de que a família fazia apanágio: “Isto aumentava-os em prestígio, pela maneira calorosa e hospitaleira como sabiam ser anfitriões. Uma vez penetrados nos domínios da casa, quebravam-se as distâncias de classe e ficava-se com a grata sensação que eram todos iguais.” 6
Através dos olhos extasiados dos Policarpos – Remígio, Glafira e Floriano – pouco habituados a tanto requinte e luxo, porque provenientes de uma classe mais baixa, é-nos dado conhecer o ambiente interior da sala dos Madrugas: sala vasta, com sofás e poltronas luxuosos e pesados, mesinhas que se espalhavam, ostentando ornamentos de porcelana valiosos; retratos a óleos, nas paredes, dos pais dos donos da casa; outros quadros de paisagens e naturezas mortas; uma falsa lareira com pratos da Companhia das Índias, colocados em cima; abatjours junto dos sofás e lustres de teto.7
A entrada na alta sociedade começava a esboçar-se e o tão desejado sonho de Elfrida e Remígio começava a concretizar-se, devido ao declarado namoro de Floriano e Elfrida Madruga.8
2. Construção das personagens e suas ambiências.
Consideramos os elementos das famílias protagonizadas – Policarpos e Madrugas – de personagens planas, por incidirem nos mesmos gestos e comportamentos, enunciarem discursos que variam pouco, suscetíveis de serem entendidos como marcas manifestadoras. Nesse sentido, revelam uma certa tendência para se identificarem com tipologias humanas de certa representatividade social. Na diegese, revelam-se previsíveis quanto ao seu comportamento, intermediando as ações e girando ao redor das personagens principais como seres complementares, dando suporte à continuidade da história.
2.1. Remígio Policarpo e Glafira
- “Repugnava-lhe dar o passo fatal para o casamento e assim se passaram alguns anos. Numa festa de Carnaval, encontrou Glafira, encantou-se com ela, com quem dançou praticamente toda a noite. Seis meses depois, com vinte e quatro anos e ganhando ainda modestamente no Tribunal, casou-se com ela.” 9
Remígio Policarpo e Glafira incorporam uma classe média com pretensões de ascensão social, através do casamento dos filhos. Como escrivão de Direito, Remígio é caraterizado como uma figura do Tribunal, trajando sempre de preto nas horas de serviço, estatura mediana, cabelo empoado de grisalho com ar austero. O narrador releva na sua educação, adquirida no Seminário de S. José, o domínio perfeito do português; o conhecimento do latim e francês; a aquisição linguística em inglês. Acentua no patuá o traço denotador de iliteracia, e ao chinês confere-lhe um estatuto de menorização por o considerar apenas necessário a uma comunicação elementar com os criados.
Focalizado como homem bom, caridoso e de magnífico coração no resgate de Leontina, vem posteriormente a ser caraterizado de covarde e fraco perante a obstinação da mulher em expulsá-la de casa. Na época existia um preconceito em relação às crianças enjeitadas, as bambinas, que eram recolhidas pelas madres canossianas – este preconceito é suportado através da oposição aguerrida dos elementos femininos desta família à protagonista. Salientamos a forma de apreciação do narrador sobre as mulheres da família Policarpo, nem deslumbrantes nem tão pouco inteligentes, descritas de acordo com o estatuto médio da classe social a que pertencem: Alzira, a filha mais velha da família tornou-se uma jovem obesa, sem cintura, nem elegância no andar e, mais ainda, preguiçosa. Feliciana, vistosa e vaidosa, com vontade de aprender, essencialmente o inglês, enlevava os pais que sonhavam para ela um casamento de conveniência com algum rapaz da Praia Grande para, deste modo, poderem frequentar os espaços e ambiências que lhe estavam interditos.10 Remígio era um homem ambicioso que mantinha um desgosto secreto, o de nunca ter sido convidado pelo governador para as festas do Palácio do Governo.
- “A prima Glafira fora uma desilusão, tão diferente (...) Cada vez mais magra e aguda, era irritadiça, consumida de ciúmes imaginários, corroendo a paz do marido.” 11
D. Glafira é formatada segundo os moldes de uma mulher de igreja que se dedica, em pleno, a várias obras assistenciais. De interesse referir que a sua instrução não foi além da terceira classe, visto na época ser prioritário a formação de boas donas de casa e “mães de família” para assegurar descendência e perpetuar os apelidos dos maridos.
Mulher de preconceitos, vivia sob o estigma de falta de beleza e de cultura, pois apenas falava o patuá, sentindo-se, por isso, inferiorizada. Vemos o seu comportamento social acompanhar a ascendência profissional do marido quer a nível de vestuário, quer a nível de postura física: “Quando o marido se elevou para a categoria de Escrivão de Direito, a mulher modificou-se. Fora do círculo íntimo dos parentes e dos amigos, passou a exigir o tratamento de D. Glafira. O pescoço tornou-se mais duro no cumprimento e melhorou na apresentação.” 12
Apesar dos esforços, Glafira não consegue atributos suficientes para ser apreciada no seio da comunidade macaense; teria de falar corretamente o português, mas apenas falava o patuá; tinha de possuir alguns atributos físicos e esta revelava uma magreza excessiva, uma vez que “Nem medicamentos, nem fortificantes ou mezinhas chinesas alteraram o seu perfil de “tábua andante.” 13
O narrador realça um aspeto negativo na religiosidade de Glafira: a falta de caridade em relação à criança enjeitada, evidenciando uma prática religiosa de ocasião, muito comum nos dias de hoje e de antigamente.
“Batem o peito diante dos altares e têm certamente calos nas rótulas de tanto ajoelharem. Você, Glafira, pratica ostensivamente a caridade, mas, pelos vistos, ela é só para o Governador e o Bispo verem.” 14
 Seminário de S. José.
Seminário de S. José.
Neste contexto, é valorizada a palavra dada por Remígio ao filho Floriano; e a não cedência à execução da vontade da mulher e das filhas mostra um pouco da idiossincrasia do homem macaense. Senna Fernandes, através desta personagem, enobre- ce-o no empenho do cumprimento de promessas feitas:“– Prometo-te filho.”; “Se ninguém a reclamar, tenho direito para isso, não sairá desta casa que pode manter mais uma boca.” 15 Atos de honradez, caridade e amor ao próximo eram sintomas de bons princípios morais de que um macaense se orgulhava e que transmitia aos filhos. É através desses valores que Remígio convence as mulheres da casa, argumentando: “– Podia deixá-la neste estado de miséria e virar-lhe as costas? Que homem seria eu então?” 16
Deste modo, Leontina permanece no lar dos Policarpos de acordo com a promessa de Remígio ao filho, sob a condição de “crioula”, mas este facto não a vai impedir de ser maltratada e espezinhada, acabando por ser expulsa passados seis anos.
2.2. Sebastião e Emília Madruga
- “Sebastião e Emília Madruga, altos, entroncados, soberanamente chiques sem espalhafato, ele meio palmo mais alto, ambos emanando a força que a saúde e o dinheiro conferem.” 17
Ao representante de uma classe social elevada, de macaenses endinheirados, com prestígio e influência em Macau, Senna Fernandes traçalhe o perfil de uma forma muito singular: fisicamente com cinquenta anos, alto, entroncado, soberanamente chique sem espalhafato com nariz aguçado e boca prognata que se evidenciam negativamente num rosto harmonioso. Mas é na sua força de caráter que o narradorautor primazia, como convém a um perfil de aristocrata “(...) era um perfeito cavalheiro. Maneiras distintas, que lhe saíam naturais, afável com as senhoras que se deliciavam da sua palavra, bom conversador, genial no bridge e no póquer, aparentemente sempre bem-disposto, cultura amassada pela experiência e pela boa leitura, era um marco na sociedade local.” 18
 Praia Grande.
Praia Grande.
O perfecionismo no domínio da língua portuguesa, adquirido através do Seminário de S. José; uma educação inglesa, adquirida em Londres e, finalmente o casamento com a bela e orgulhosa Emília Albuquerque, dos Albuquerque da Praia Grande, zona em que residia a classe mais fina da comunidade macaense, são traços relevantes de Sebastião Madruga. A acrescer o desprendimento de cargos e honrarias, porque o seu berço não exigia mais demonstrações de poder, como bem dizia a sua mulher: “– Nós somos. Os outros pretendem ser ou nunca serão.” 19
- “Não gozava de simpatias, o seu porte altaneiro, insuportável de soberba.”20
Emília Madruga aparentada com algumas casas fidalgas de Portugal, pertencia à aristocracia do bairro de
S. Lourenço. Descrita como perigosa no seu ódio, mas boa e generosa para quem gostasse, impunha-se perante as outras mulheres que a respeitavam pelo seu ar altaneiro e pela sua posição social. Ao contrário de Glafira, Emília era uma mulher culta, falava inglês, francês e tocava piano, falando apenas o patuá com as mulheres de Macau e o português com os metropolitanos. Glafira soube atrair as atenções desta aristocrata, fazendo-se notar pelo trabalho e eficiência no desempenho das funções relativas à paróquia de Santo António. Admitida no círculo restrito de Emília Madruga, Glafira torna-se seletiva na escolha das amigas numa atitude ofensiva, esquecendo as amigas de infância e de escola, com o propósito de ascensão no meio social e religioso.
Sem diferenciação de género, na sociedade macaense descrita em “Os Dores”, interessava a uma família de classe média a integração e aceitação numa classe social mais elevada que, por vezes, era conseguida através de laços de amizade ou de casamento entre filhos. Emília gostou de Floriano, do seu porte de gentleman, com qualidades e postura para furar barreiras e casar-se com a sua filha Elfrida. Por sua vez “No fundo, Remígio lisonjeava-se com aquela amizade, um trampolim para, mais dia, menos dia, se aproximar do grande Sebastião Madruga.” 21 E tudo era programado em função do prestígio social e ingresso na dita aristocracia da época.
3. Configuração de tipologias modeladas
Pelas suas potencialidades psicológicas, pela representatividade no universo diegético encontramos tipologias modeladas nas seguintes personagens: Floriano, Leontina e Lucas Perene. O fator mais distintivo destas personagens é o facto de elas se revestirem de complexidade suficiente para constituírem personalidades bem vincadas, às quais se dá relevo pela sua peculiaridade. A sua imprevisibilidade permite revelar gradualmente os seus traumas, vacilações e obsessões, que constituem os principais fatores da sua configuração.
3.1. Floriano
- “Falhara nas esperanças duma licenciatura, falhara na futura esposa ao aceitar uma noiva que, no fundo não desejava, como moeda de troca, e falhara na confiança e na ternura fiel dessa moça (…) e só tivera o defeito de ser pobre e filha de ninguém. Nitidamente, lembrava-se agora que jurara protegê-la.” 22
Aos onze anos de idade, é delineado com características psicológicas bem marcantes na sua personalidade. Vemo-lo atuar maduramente, durante as negociações com a velha chinesa no resgate de Leontina. A força psíquica e de carácter é visível através da forma como a mãe o admira e respeita. Sabe argumentar de forma convicta, falar ao coração e evocar a devoção de D. Glafira pela Nossa Senhora das Dores para a fazer fraquejar, na rejeição obstinada à crioula.
“Nós não somos gente sem coração, mamã. Somos pessoas de bem. A Nossa Senhora das Dores por quem a mamã tem grande devoção – as mais belas flores da casa ornamentam a sua imagem – não aprovaria certamente um ato tão cruel.” 23
E o esboço de herói romântico começa a definir-se, quando num gesto de carinho, Floriano lhe pega na mão peganhenta com o intuito de a confortar e proteger, surgindo a personagem que ocupará na obra um papel fulcral em relação à intriga. A atração do homem macaense pelas mulheres de traços orientais está bem configurada nesta passagem: “Examinando-a assim de perto, como prometia ser formosa! Lábios cheios, docemente simétricos, (…), malares suavemente salientes, olhos, quando abertos, de amêndoa grande. Rosto em oval, sobrancelhas arqueadas muito espessas.” 24
À semelhança das personagens masculinas desta obra, nomeadamente do pai, de Sebastião Madruga e de Lucas Perene, Floriano teve uma excelente formação, adquirida no Seminário de S. José, que sempre incutiu nos jovens uma forte ligação a Portugal: “Com onze anos apenas, já alimentava ambições. Uma delas era de ir estudar a Portugal, país de que os padres mestres tanto falavam exaltando o amor pátrio.” 25
Esse amor a Portugal, traço identitário dos macaenses, encontrado nos protagonistas masculinos, é defraudado perante a obstinação dos pais em casá-lo com Elfrida, a filha dos Madrugas, inviabilizando este anseio antigo: “– Deixemo-nos de romantismos. O melhor curso que podes tirar é casares-te com Elfrida Madruga.” 26 Dentro de Floriano ruiu o pedestal de nobreza e honestidade e o pai transformava-se num vendilhão que o vendia a ele, impulsionado pelas melhores intenções. A relação entre ambos foi afetada, criando-se um clima de mágoa e retraimento.
Salientamos que esta meta de vida dos jovens macaenses, a de irem para Portugal para se licenciarem é um denominador comum nas personagens masculinas de “Os Dores”. Encontramo-la em Lucas Perene, obstruída por oposição do seu pai; e em Remígio por falta de meios económicos, devido à morte do seu progenitor e à obrigação de angariar o sustento da família.
Floriano não luta pelos seus ideais, de cabisbaixo, perante o pai, conforma-se com o casamento de conveniência; também não reagiu, com medo de se denunciar, quando a mãe acusa injustamente Leontina de ter seduzido o irmão Marcolino: “O coração doía-lhe. Mas, com toda a crueza, a realidade era esta. Se ela não podia aspirar a mais, era melhor sair mais cedo que tarde demais.” 27
Por sua vez Remígio, para não contrariar a mulher Elfrida e ter paz em sua casa, faz cedências de que se sente culpado e “sente-se envergonhado pelo procedimento ignóbil”28 por ter consentido um tratamento injusto e empedernido em relação a Leontina. Destacamos nestas personagens a fraqueza e covardia por desistirem perante os obstáculos, aceitando os factos adversos como irreversíveis.29
3.2. Leontina
“Filha de ninguém, crioula rejeitada de uma casa farta, bambina de convento …” 30
 Coloane.
Coloane.
São estes os ingredientes com que o narrador apresenta a sua heroína que ocupará sistematicamente a nossa atenção ao longo da diegese. Abandonada pelos progenitores e entregue a uma velha chinesa que habitava uma cabana perdida em Coloane, surge-nos, no início da narrativa, incrivelmente suja e esfarrapada, exibindo maus-tratos nas pernas e braços com chagas, quando descoberta por Floriano, após um dia de pesca.
O narrador debruça-se particularmente atento sobre estes elementos psicossociais que justificarão o comportamento futuro de Leontina, no que concerne à sua relação com os vários espaços e ambiências e irão constituir prova da sua centralidade cuja existência diegética se distribuirá por fases bem definidas.
- Na Calçada do Tronco Velho, nunca aceite, vive diariamente sob o estigma da rejeição, tendo alguma proteção de Floriano e Remígio que impediram que fosse enviada para a Casa de Beneficência. Através da configuração desta personagem, o autor dá-nos a conhecer uma questão de relevo da comunidade macaense do século passado – a de uma geração de “filhos da terra” desprovidos de ancestrais históricos, filhos ilegítimos, de mãe chinesa e pai Kuai lou, sem o passado identitário encontrado nos Policarpos ou Madrugas. As repercussões do fenómeno da ilegitimidade na sociedade encontram-se configuradas na atitude de Glafira e na secura de trato de Remígio, comportamentos denunciadores dos preconceitos da época.
- Apesar de sobrevivente numa casa hostil, o autor sobrevaloriza no desenho da sua heroína o traço principal da identidade macaense: a língua portuguesa. Primázia Crescência, prima de Glafira, “puxando pelos colarinhos da família” e argumentando que “era inconcebível que na casa de um escrivão de Direito existisse uma crioula-branca completamente analfabeta”31, conseguiu pô-la a falar e a escrever corretamente português, estabelecendo um contraste com as filhas da família. A reprimenda do puxão de orelhas, as vergastadas e a recomendação: “– Afasta-te do meu filho … Percebeste?” 32 não a impediram de viver com Floriano no coração; e na formação da sua personalidade, começa a esboçar-se uma mulher determinada.
- O desígnio de ir para a Casa da Beneficência das Madres Canossianas cumpriu-se. Devido a uma maldade de Marcolino, filho mais novo, de treze anos e estragado de mimos, tornou-se bambina ou “rapariga de convento” a palavra tão terrificamente tenebrosa com que foi amedrontada durante todos aqueles anos. Remígio entregou-a às madres sem um beijo ou o mais pequeno carinho, mas com um camuflado sentimento de culpa: “Encontrara-a abandonada e sozinha numa praia obscura e agora abandonava-a, também sozinha, a descartar-se duma responsabilidade, apenas para ter paz no seu lar e livrar um filho endiabrado de tentações pecaminosas.”33
- Saiu do convento aos dezasseis anos, mulher feita, de beleza acentuada e porte esbelto, mas amargurada e revoltada com uma sede de vingança que irá acentuar-se através do relacionamento com Lucas Perene, outro “filho da terra” com uma vida denegrida, ostracizado pela família e sociedade. O meio em que fica inserida, no final da narrativa, é um determinante para explicar o seu desejo de um ajuste de contas com Floriano e respetiva família, embora não materializado por a obra estar inacabada. Estas são as facetas da sua existência diegética suportadas pelas relações de afinidade e rejeição com o espaço em que foi inserida.
3.3. José Lucas Perene
“(…) filho desprezado, a quem o progenitor infligia monstras sovas com o grosso cinturão de couro, para dominar a sua rebeldia.”34
Numa outra situação, surge a focalização interna de Lucas Perene, filho de um funcionário das Obras Públicas e de uma mãe macaense da Taipa de personalidade fraca, marcado para sempre pelas memórias da agressividade do pai. O meio familiar surge na condição de determinante fundamental para explicar o seu comportamento.
Caraterizado de rapaz atraente e de feitio envolvente, o narrador referencia-lhe a mesma educação no Externato do Seminário de S. José, evidenciando mais uma vez o cariz da formação católica nas personagens masculinas. Como Floriano pretendia tirar um curso superior, desta vez no Estado da Índia, em Goa, por ser menos dispendioso do que em Portugal. A recusa do pai marca-o para o resto da vida, tal como ficou marcado Floriano. Enjeitado e odiado pelo pai, em virtude da tez escura da sua pele, e tratado de forma desigual em relação ao seu irmão mais velho, torna-se num ser rebelde, inconformado, de uma grande densidade psicológica, ocupando um lugar central a partir do capítulo XI. O pai, funcionário das Obras Públicas, ciumento em relação à mulher, espancava os elementos familiares, com exceção de Joaquim, o seu filho predileto, de tez clara como ele, em quem punha grandes expetativas.
A morte da mãe e o segundo casamento do pai são fatores determinantes para ser expulso de casa, tendo como principal pretexto a defesa da irmã Angélica, quando o pai a esbofeteava. Após estes indicadores, o autor integra-o num ambiente acentuadamente chinês, a nível de trabalho: um dos cais no Porto Interior e posteriormente na Capitania dos Portos.
 Porto Interior.
Porto Interior.
O abandono de Evandolina, prometida de Joaquim, com quem se casara por hostilização ao irmão, vai conferir-lhe o traço acentuadamente identificador de rejeitado pela família e marginalizado pela comunidade macaense, porque apelidado de mulherengo e de outros vícios condenáveis.
E a sua inserção num cubículo, na Travessa de Sancho Pança, a dois passos do Hospital de S. Rafael, com cheiro a azedo e bafio, roupa suja espalhada por todo o lado, teias de aranha nas paredes, roupas e sapatos atirados pelo chão e muita poeira acumulada, denuncia modos degradados de uma existência socioeconómica – a de “homem sujo, camisola que fora branca, barba por fazer, ar decadente e arroto fétido.”35; e um espaço e ambiência não condizente a um filho da classe média que tinha uma certa educação e estudos, sendo o espaço configurado como uma projeção do estado da personagem.
III. RETRATOS IMPRESSIONISTAS DE ESPAÇOS E AMBIÊNCIAS
“Descrevo o meu Macau, o meu património, o que eu conheci. Só me lembro desta terra como ela era há anos atrás. Falo dela mantendo-a intacta no meu imaginário.”
In, O Olhar de Senna Fernandes:
Fragmentos, pág. 5
 Macau antigo.
Macau antigo.
Senna Fernandes, ao estilo de uma montagem cinematográfica, por cenas ou quadros, descreve de forma fiel a realidade que observou quando criança mas, por outro lado, embeleza-a através da fantasia e da imaginação, tornando-a ainda mais fantástica – uma vez que considera que não basta descrever pormenorizadamente, mas também manifestar o sentimento sobre essa mesma observação. Os espaços e ambiências descritos são respeitantes a Macau, como refere, constantemente, o autor “Cantar Macau é a minha paixão”. Através do seu talento e sensibilidade pinta-nos autênticos quadros da sua terra e das suas gentes, com luz, cor, movimento, pois ele próprio considera a sua escrita como uma arte de pintar / filmar a realidade.
“Salgari teve muita influência em mim. (…) Escrevia um livro com muita facilidade, parece que eu estava a ver um filme. E esta minha maneira de escrever numa linguagem fílmica foi de Salgari, muito mais do que de Verne.”
In, Memórias e Testemunhos,
pág. 198
“Na infância, foi Salgari e na adolescência Júlio Verne (…) Marcaram a minha juventude autores como Aquilino Ribeiro, Eça de Queirós, Jorge Amado e Camilo Castelo Branco, de quem gostava especialmente.”
In, O Olhar de Senna Fernandes:
Fragmentos, pág. 11
No início da obra “Os Dores”, capítulo I, o narrador situa-nos numa tarde outonal de 1908, 15 anos antes do nascimento do autor e 105 anos antes da publicação desta obra. Os dezassete capítulos que a constituem são pródigos em descrições sobre ruas, avenidas e paisagens num emaranhar de factos verídicos e imaginativos, sempre num pulsar de vida e ritmo caraterístico de Macau de outrora, visualizadas através dos percursos efetuados pelas personagens e através dos olhos das mesmas. Através dos seus relatos coloridos e cheios de vida como só o autor sabe fazer, somos integrados numa viagem no tempo, tempo do início do século XX.
A atmosfera nas redondezas de Macau era de verdadeira acalmia com temperatura amena, arvoredo luxuriante e gorjeios de pássaros, um autêntico ambiente bucólico tão a gosto de Bernardino Ribeiro: “No ar, espalhavam-se os gorjeios da passarada. O resto, uma paisagem imóvel, escalavrada, pesadas rochas graníticas e vegetação maninha.” 36 Esta paisagem colocada ao olhar dos cinco passageiros de uma embarcação de pesca à linha é completada com a referência a um espaço territorial, que abrangia um canal entre as ilhas da Taipa e Coloane, atualmente desaparecido, e a enseada de Seak Pai Ván: “Recolhida a vela, a embarcação de recreio deslizou na enseada de Seak Pai Ván, para fundear na linha da praia, onde as águas subiam e desciam mansamente.” 37 Dentro da realidade sócio histórica, o autor refere um passatempo macaense da época, a pesca de nairos e asas amarelas, efetuado por Remígio Policarpo, o seu filho Floriano, José Lucas Perene, personagens fulcrais desta narrativa.
Com a entrada em cena de Leontina, personagem principal, e através do percurso de regresso até à Calçada de S. Agostinho, o leitor é levado a visualizar uma ambiência de fim de tarde, denotadora do sentir das personagens, fazendo convergir a sua maneira de agir com esse ambiente e, deste modo, propiciar o cumprimento da ação central. Assim, as personagens agem de determinada maneira porque o espaço lhes é favorável “diferentes espaços engendram diferentes atitudes” 37, configurando-se uma analogia entre o espaço e o estado de espírito.
“A tarde morria, a água do canal avermelhara-se com os doirados do crepúsculo. A vela enfunada impelia a embarcação para a frente, afastando-se da ilha, para sossego da tripulação.” 38
“Sob o embalo da água marulhenta e os estalidos da vela barriguda, cabeceou e adormeceu, totalmente à mercê daqueles que a conduziam. Assim se rumava o destino de uma vida.” 39
 Calçada de Santo Agostinho.
Calçada de Santo Agostinho.
Esse destino teve como ponto de partida o lar dos Policarpos, na Calçada de S. Agostinho. É através dessa localização e da curiosidade de Leontina em saber o que o que se passava para além do mundo restrito em que vivia, que o narrador nos descreve o movimento dessa rua – uma ambiência chinesa de onde extraímos uma fusão de impressões visuais, auditivas, olfativas com referência às tipicidades da cidade.
“Leontina sabia da sua existência, por algumas vezes espreitar o que se passava. Havia muitas pessoas que desciam por ela, pessoas variadas que não eram só os da casa. Ouvia os pregões matinais e nocturnos dos vendilhões ambulantes de canja e sopa de fitas, do padeiro de pão quente, do amolador de facas, do remendão de sapatos e do homem dos tin-tins.”40
E, quando Leontina sai de casa pela primeira vez, através da mão de D. Crescência, subindo a calçada para ir à missa, à igreja de S. Lou- renço, a focalização acentua-se não só em relação ao aspeto físico da zona, mas também a toda uma ambiência humana citadina. Através de “gradientes sensoriais”, em que Senna Fernandes é exímio, é de- monstrada a relação da protagonista com o espaço circundante, uma re- lação de total exclusão e de não pertença.
“Viu as lojas e as caras morenas dos “mouros”, ladeou de perto os ven- dilhões ambulantes, ouviu vozes, risadas, gesticulações dos transeuntes e ninguém se referia a ela. Espreitou o poço público perto da escadaria para a igreja, donde se tirava uma água cristalina.”41
 Vendilhões.
Vendilhões.
A informação sobre Macau antigo prossegue, quando da expulsão de Leontina do lar dos Policarpos, como se de uma montagem de quadros impressionistas se tratasse, onde vemos gravados a memória do tempo perdido, a lembrança do autor sobre a terra que iria deixar de ser sua e que, por certo, iria perder a sua peculiaridade. Esta sucessão de quadros, de um realismo documental, está imbuída de um sentimento telúrico que produzem uma visão edénica da cidade e consagram a secular presença portuguesa em Macau. Os locais históricos vão desfilando durante o percurso de Leontina como marcas de uma identidade, referenciando-se os monumentos de cariz religioso, nomeadamente as igrejas, símbolos da identidade católica da comunidade macaense: igreja de St. Agostinho; de S. Lourenço; de S. Domingos; ruínas de S. Paulo e igreja de St. António.
 Igreja de S. Lourenço.
Igreja de S. Lourenço.
O cenário que serve o percurso da Calçada de St.Agostinho para o Convento das Canossianas, junto do Jardim Camões, é pormenorizado até à exaustão pelos olhos da protagonista, espantada perante a visão de um mundo que sempre lhe fora interdito.
Para trás vai ficando a rua Central, a igreja de St. Agostinho e de S. Lourenço: de riquexó, o padrinho à frente e ela atrás, descem para a Praia Grande com grandes casarões e de pouco movimento, contornam o labiríntico bazar, entram no burburinho do Largo de S. Domingos. E, na passagem estreita pela rua da Palha, a descrição da ambiência humana prossegue, revelando mais um aspeto de um pitoresco dia-a-dia domingueiro. As inferências socioprofissionais detetáveis nesta descrição, conferem riqueza e dão dinamismo à narrativa, constituindo o cenário de uma realidade social do território, dos inícios do século XX.
 Largo de S. Domingos.
Largo de S. Domingos.
 Ruínas de S. Paulo.
Ruínas de S. Paulo.
 Igreja de S. António.
Igreja de S. António.
 Rua Central.
Rua Central.
“(…) na apertada artéria, onde se atravancavam vendilhões de comidas, acepipes e fritos, penteadeiras com os seus apetrechos, o barbeiro e o dentista ambulantes, com as suas clássicas cadeiras de ofícios, riquexós aos gritos dos condutores e muito povo que ia e vinha nas compras nas lojecas e nos recantos da rua, ou a caminho do Mercado.” 42
E o contraste de ambiências inerentes aos espaços físicos de Macau é no- tado através da entrada do riquexó na calma rua de S. Paulo, para depois se visualizarem os casarões assobradados dos mamões de St. António, classe enriquecida através do comércio. Entre o cimo da Calçada do Botelho e o muro da igreja, aparece o Convento das Canossianas – o novo destino de Leontina – num largo sombreado que hoje é denominado “Largo de Camões”. A utilização dos adjetivos na descrição do edifício, confere uma analogia entre o espaço a habitar e os sentimentos a vivenciar nesse local adequado ao cumprimento da ação – ser bambina, ou seja uma enjeitada da rua, sem pai nem mãe e sem família.
“(…)deparou com um largo sombreado, todo ele dominado por um casarão enorme de fachada sombria e triste.” 43
 Colégio das Canossianas.
Colégio das Canossianas.
Selara-se o destino de Leontina. E um novo percurso a partir do convento é delineado pelo autor, através dos passeios semanais das órfãs, para perpetuar zonas famosas de Macau tais como o Jardim Camões, a cem passos do convento; a Praia Grande; o Jardim de S. Francisco; o jardim Vasco da Gama; a Estrada da Vitória e o bairro da Flora – espaços físicos simbólicos que consagram, ao território, um passado português. O contraste entre a ambiência das órfãs e a das crianças dessas zonas, com aspeto de bem alimentadas e vigiadas por criadas, testemunha as diferentes identidades étnico-culturais e as consequentes relações entre espaço e vida social.
“Viam de longe as manifestações de riqueza, gente bem vestida, crianças bem alimentadas, vigiadas pelas criadas, outra vida que não a existência triste e confinada do convento.” 44
E a ambiência edénica de Macau continua a ser retratada, retrato que acompanha a vida de Leontina. Primeiro, quando da saída do convento, o narrador regista a impressão que a realidade provoca no espírito do protagonista, com destaque para a tipicidade das profissões, hoje extintas, devido ao crescimento habitacional e ao desenvolvimento económico, provocado pela indústria do jogo que não permitiu que as mesmas perdurassem até aos dias de hoje.
“O sol da manhã ofuscava, o amolador de facas gritava as suas virtudes de profissional, ao som dos ferritos do homem dos tin-tins ou ferros velhos. Acudiram ao chamamento vários riquexós desgarrados no Largo de Camões.” 45
Seguidamente, situa a heroína na rua do Hospital, relativamente perto da Rua do Campo, do Largo de São Domingos e do Senado. Nos seus passeios domingueiros com Eunice, o narrador fá-las deambular pelo Jardim Público de S. Francisco para ouvirem a música da Banda Municipal no coreto; visualizar as pessoas bem vestidas de outra classe social que frequentavam a casa de chá; descrever a Baía da Praia Grande, digna de destaque através da descrição do quotidiano nesse local. Nestes quadros citadinos, a realidade comum é retratada como uma linguagem bastante exata, porém de forma artística e numa tentativa de “figurar” o subtil estado de alma da personagem, associado aos estados subtis de uma ambiência envolvente.
“A Baía da Praia Grande recobriase de oiro e sol que declinava atrás da Ilha da Lapa. A água da enchente reverbava em cintilações resplandecentes, murmurava em soliloquies junto da muralha de granito, mas ao longe batia forte nas pedras extremas do fortim 1 de Dezembro. Juncos preguiçosos nos ancoradouros recolhiam as velas. Lorchas e sampanas balanceavam ao sabor da maré. Tancares diminutos, em labor incessante de vaivém, riscavam em tiras de espuma o manto esverdeado da água dos princípios de Setembro. Nos cais de pedra, em plano inclinado, desembarcava-se o pescado do dia, em cestas de vime.” 46
E a descrição minuciosa, captação sensível da realidade, continua como evocação de uma identidade macaense, expressa na cor local, na conclusão harmoniosa da história e nos elementos autobiográficos do autor para registo dos vindouros – edifícios simbólicos do tempo em que a cidade era administrada por portugueses. A personagem fica arrebatada com a contemplação da paisagem que desconhecia, porque tinha adquirido o sentido de pertença à terra, uma portugalidade incutida através do esmerado domínio do português e de uma educação culturalmente católica transmitida por D. Crescência e pelas irmãs canossianas.
 Praia Grande e Penha.
Praia Grande e Penha.
“(…) a orla do casario da Praia Grande, em curva graciosa, duma ponta à outra, desde o Grémio Militar à arruinada Fortaleza do Bom Parto resplandecia, ornada de árvores frondosas (…) Identificou alguns edifícios, a ermida da Penha, o Hotel Bela Vista, o Palacete de Santa Sancha, o Palácio do Governo, o Tribunal, os contornos superiores da Igreja de S. Lourenço, do Seminário de S. José e da Sé Catedral.” 47
Num final de domingo, assistimos ao toque das trindades e ao final das atividades. O regresso a casa das gentes macaenses, demonstra uma sintonia entre o meio ambiente e aqueles que nele vivem: “A banda municipal tinha já terminado o seu concerto e o “picadeiro” esvaziara-se de gente.” 48; ajuda também à criação de atmosferas especiais de carácter identitário, dando informações sobre a religiosidade, traço destacável da comunidade.
 Igreja de S. Lázaro.
Igreja de S. Lázaro.
“Abandonaram o Jardim, subiram depois a Travessa dos Anjos, para se separarem na Rua de S. Domingos (…) Quando rolavam os ecos dos sinos das Trindades da Igreja de S. Lázaro, entrou em casa.” 49
O ambiente serve como pano de fundo ao desenrolar dos acontecimentos fulcrais do ponto de vista da ação central. Assim, o narrador através do dia-a-dia de Leontina leva-nos a percorrer as ruas da zona cristã. Situa-nos na Rua da Palha, onde ainda, há pouco tempo, encontrávamos os carrinhos de linha, botões e tudo o mais relativo à arte da costura, para depois passar a descrever a fascinante ambiência desta rua concorrida, do início do século XX.
“(…) desfilavam os transeuntes apressados que se acotovelavam, os mendigos com choradas litanias, os vendilhões berrando à compita, o cheiro de alcaçuz, de cânfora e de ervas medicinais duma farmácia tradicional chinesa, o aroma de sândalo duma loja de pivetes, a zorra vergada de lenha que subia a caminho da Rua de S. Paulo” 50
Contígua à rua da Palha, a Rua dos Mercadores, aparece-nos também caraterizada como rua de grande movimento “Na Rua dos Mercadores, na hora buliçosa das três da tarde, a artéria cheia de transeuntes, ao parar diante do balcão da loja do vendedor de pato assado.” 51
O autor, através da descrição dos locais e das ruas da cidade, fornece elementos para entendermos a lógica do comportamento das personagens e, simultaneamente, localizar as atividades humanas, assim como os fluxos de pessoas, as mercadorias e várias informações que se conectam a esses lugares. José Lucas Perene pelo seu carácter híbrido é a personagem através da qual o autor nos dá outra visão do espaço e ambiência de Macau: a rua da Felicidade, com destaque do restaurante Fat Siu Lao, é descrita de forma aprimorada, relevando toda a boémia inerente a essa rua, denominada de “rua do amor”.
“Todo o burburinho, em baixo, da famosa artéria do amor trepava até eles. As vozes falsetes das cantadeiras no casario vizinho, os acordes lamentosos do alaúde e do pei-pá, os estalidos dos tamancos, os gritos dos condutores de riquexó e outras vozes, risinhos esparsos de mulher.” 52
O percurso efetuado por Leontina e Lucas Perene em espaços próprios da comunidade chinesa – a rua do Hospital, e a rua de Sancho Pança – completa o quadro sobre a toponímia de Macau com uma ambiência sui generis.
 Ilha da Lapa.
Ilha da Lapa.
“Da janela subiam os ruídos do tardoz da casa. Gorjeios e risada de criançada, vozes de mulherio em palreio fiado, alguém a soprar num trombone, em desconjuntado esforço de harmonia.” ; “Galos crocitavam na vizinhança, e das janelas vinha o ruído de uma rua calma, vozes esparsas e pregões de vendilhão de comidas.” 54
Os espaços marcadamente chineses de Macau são uma constante presença no discurso narrativo. O cais do Porto Interior aparece como refúgio de José Lucas. Neste local ganha a vida, isolando-se do resto da comunidade.
“O cais era dos mais movimentados do Porto Exterior; por ele passavam mercadorias, géneros alimentícios e contrabando que escapavam à fiscalização da polícia marítima. As ligações de exportação e importação com os portos fluviais da “terra china” circundante ativavam o cais, desde manhã cedo até a noite fora.” 55
E as referências à labuta marítima da personagem, desta vez na Capitania dos Portos, prosseguem para demonstrar como “o ser humano se relaciona com o espaço circundante através de seus sentidos”.
“Gostava do rio e do mar, do cheiro a maresia, dos acenos dos Pescadores dos juncos, da nostalgia dos longos e rubros crepúsculos que cobriam os cimos da Lapa e doutras ilhas circundantes duma auréola cegante e doirada.” 56
Segmentação do espaço em macro espaços
 Macau antigo.
Macau antigo.
Em contraste com a vida citadina, aparece-nos outro tipo de espaço, que denominaremos de geográfico//territorial, acentuadamente bucólico possuidor de um passado histórico. A visão é um dos sentidos que o autor mais destaca nesta abrangência espacial, pois é através dela que as personagens o captam num máximo distanciamento. Atualmente, transformado pelas instituições governamentais que dão aval às realizações humanas, vários edifícios gigantes brotaram nas costas da Península de Macau, tapando a linha do seu horizonte.
“As raparigas do atelier aproveitavam para passeios à Montanha Russa, ao pinheiral da Guia, à aprazível estância da Flora de vivendas elegantes e fora de portas, espreitando o conjunto harmonioso do Palacete de Verão do Governador e o seu pejado de canteiros e de chafarizes. Ou então iam aos miradouros da Estrada de S. Francisco e da Estrada de Cacilhas, de calma idílica, contemplando os longes do mar mosqueado de juncos e ouvindo em baixo os murmúrios ou os regougos do mar, ao encontro de rochas escavaladas.” 57
Para o autor, a topo-análise também contempla analisar a posição em que os sentidos atuam na relação entre personagem e espaço. Nesta passagem percebemos a relação entre Leontina e a paisagem, perpassando os gradientes sensoriais num esquema de menor e maior distância respetivamente entre visão, olfato e audição. Entendemos, porém, que num texto literário, como na realidade, não há perceção de espaço que contemple apenas um dos sentidos. É a conjunção de gradientes sensoriais que faz com que se perceba o todo, formando assim infinitos efeitos de sentido.
“Era na contemplação da paisagem, sob a umbela das árvores de pagode e o cheiro da resina dos pinheiros, embalada pelo chilrear da passarada irrequieta que vinha à tona a dor pungente dos arcanos do coração.” 58
Dentro deste tipo de paisagem, surge-nos o Ramal dos Mouros, a Praia de Cacilhas como locais aprazíveis para um passeio e para a pesca, passatempo muito comum na época. E a influência da paisagem no estado de espírito da personagem central feminina é notória: ”A pureza do ar lavado dispersava a tristura, renovava o prazer de serem jovens.” 59
Visão e audição são sentidos importantes para a produção do significado espacial na narrativa de Senna Fernandes, dando ao leitor uma visão panorâmica dos macros espaços circundantes que constituem muitas memórias coletivas da cidade.
“Não se saciava da contemplação do mar pontilhado de revérberos do sol, dos juncos que singravam ao largo, rasgando sulcos broncos na massa líquida e movediça. As ilhas distantes azulavam a linha do horizonte. Por trás, algures, estava Hong Kong (…)” 60
Vemos que o Ramal dos Mouros era um local bem conhecido de Senna Fernandes pela forma pormenorizada como é descrito, como também outros locais circundantes, conhecidos do autor.
“O campo de ténis, não muito distante, ocultava-se por detrás da Cortina dos bambuais (…). Outro caminho dirigia-se para a zona militar interdita da Fortaleza de D. Maria II. Mais além estendia-se o morro pedregoso da resting de Macau-Seak, guardando os marulhos do mar das Nove Ilhas.” 61
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta narrativa, publicada postumamente em 2012, revela-se como composição das reminiscências do autor, que recupera, retrata, inventa e reinventa espaços e ambiências de Macau situadas na primeira década de 1900.
Macau aparece retratado em microcosmos sociais onde as personagens e respetivas famílias são neles distribuídas segundo dois princípios de diferenciação: o económico e o cultural. A família Policarpo, pertencente a uma classe média, é situada junto à igreja de St. Agostinho, na Calçada do Tronco Velho; a família Madruga na rua do padre António, porque de estatuto social e económico mais elevado – Emília Madruga proveniente da aristocracia do bairro de S. Lourenço, próximo da Praia Grande; Leontina e Lucas Perene, amancebados, são inseridos na Travessa de Sancho Pança, numa zona tipicamente chinesa, porque marginalizados devido a atos ou ocorrências condenáveis aos olhos da comunidade.
De salientar que Angélica e Wai Hong têm como primeira residência a Rua da Erva, ruela perto do hospital chinês, para depois serem colocados como moradores na zona do Tap Seac, um bairro onde se misturavam as casas de famílias chinesas e portuguesas, de acordo com o seu status social.
Conforme a configuração das personagens apresentadas, detetamos traços marcantes da identidade macaense que consistem, essencialmente, numa formação académica e religiosa adquirida no Seminário de S. José; no brio e orgulho no domínio da língua portuguesa; na transmissão aos filhos de atos de honradez, caridade e amor ao próximo; numa forte ligação a Portugal que os padres mestres incutiam através do estudo; na prioridade de uma formação universitária adquirida na mãe pátria.
Os resultados do nosso trabalho demonstram que, neste romance, o enfoque não reside apenas nas personagens especiais, mas também na retratação da própria cidade que, com seus macro e micro-espaços, permite ser apontada como uma real protagonista. Além disso, realçamos também a influência recíproca entre sujeitos e espaço, destacando como os indivíduos podem ser afetados pelo espaço circundante. Portanto, este estudo não somente analisa o espaço literário no romance, mas discute seus efeitos e influências no comportamento e posição social das personagens.
Focamos aspetos da geografia, da toponímia, tais como a baía da Praia Grande, o Largo Camões, Jardim de S. Francisco, Calçada de St. Agostinho e, sobretudo, do ambiente humano e paisagístico que tão bem Senna Fernandes soube eternizar.
Bibliografia
- Bachelard, Gaston. A poética do espaço. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. Tradução de Joaquim José Moura Ramos (ET AL.). São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores).
- Cabral, João de Pina & Lourenço Nelson (1993). O Macau Bambu: Um estudo sobre a Identidade Étnica Macaense e a Sucessão das Gerações. Revista da Administração Pública de Macau, n.º 21, vol. VI, 1993 – 3º, pp. 523-558. Imprensa Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
- Dimas, António. Espaço e romance. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1994.
- Fernandes, Henrique de Senna. Os Dores. 1ª ed., Instituto Cultural do Governo da R. A. E.M., 2012.
- Lemos, Lúcia & Jingming, Yao. 2004. O Olhar de Senna Fernandes: Fragmentos. Instituto Internacional de Macau / Fundação Jorge Álvares. Lins, Oman. Lima Barreto e o Espaço Romanesco. 1976.
- Simas,Mónica. Identidade e memória no espaço literário de língua portuguesa em Macau. In Oriente, engenho e arte. São Paulo: Alameda, 2004.
LINS, Oman. Lima Barreto e Espaço Romanesco. 1976, pág. 77.
DIMAS, António. Espaço e Romance. 2ª ed., São Paulo: Ática, 1994, pág. 20.
SENNA FERNANDES, Henrique de.2012. Os Dores. Fundação Oriente, pág. 18.
Ibid., págs.29-31.
Ibid., págs. 33-34.
Ibid., pág. 108.
Ibid., ibidem.
Ibid., pág. 113.
Ibid., pág. 29.
Ibid., pág. 30.
Ibid., pág. 39.
Ibid., pág. 29.
Ibid., pág. 30.
Ibid., pág. 22.
Ibid., pág. 26.
Ibid., pág. 22.
Ibid., pág. 108.
Ibid., ibidem.
Ibid., pág. 93.
Ibid., pág. 92.
Ibid., pág. 94.
Ibid., pág. 121.
Ibid., pág. 22.
Ibid., pág. 50.
Ibid., pág. 31.
Ibid., pág. 105.
Ibid., pág. 53.
Ibid., pág. 68.
Idem, ibidem.
Ibid., pág. 210.
Ibid., pág. 37.
Ibid., pág. 47.
Ibid., pág. 58.
Ibid., pág. 186.
Ibid., pág. 202.
Ibid., pág. 15.
Ibid., pág. 57.
Ibid., pág. 21.
Idem, ibidem.
Ibid., pág. 39.
Ibid., pág. 40.
Ibid., págs. 57-58.
Ibid., pág. 58.
Ibid., pág. 64.
Ibid., pág. 73.
Ibid., págs. 82-83.
Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
Ibid., pág. 84.
Ibid., pág. 87.
Ibid., pág. 119.
Ibid., pág. 174.
Ibid., pág. 171.
Ibid., pág. 205.
Ibid., pág. 235.
Ibid., pág. 238.
Ibid., pág. 142.
Idem, ibidem.
Ibid., pág. 152.
Ibid., pág. 154.
Ibid., pág. 158.
- 詳細內容
- Revista
- 點擊數: 83244
Alexandra Sofia Rangel
Investigadora
16 anos após a transferência do exercício da soberania, muitas instituições macaenses de matriz portuguesa continuam a desenvolver uma intensa e eficaz acção em diversificadas áreas, ao serviço das comunidades locais.
 Largo do Leal Senado.
Largo do Leal Senado.
Algumas dessas instituições, pela sua antiguidade, reportam-se quase ao início de Macau, tendo sobrevivido, pela sua capacidade de afirmação, até aos nossos dias, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia, fundada em 1569 pelo Bispo D. Belchior (Melchior, na forma erudita) Carneiro e ainda agora em funcionamento, cumprindo a missão de apoio social que presidiu à sua criação. Esta foi a segunda mais antiga Misericórdia ultramarina, estabelecida logo a seguir à de Goa (Provedoria da Santa Casa da Misericórdia 1969: 10-14). Ainda hoje, os macaenses sentem-se muito identificados com este organismo, e os seus órgãos sociais são constituídos por personalidades destacadas da comunidade, tendo muitas delas uma intervenção cívica importante.
A Igreja Católica, por seu lado, com o seu conjunto de congregações, irmandades e outros organismos associados, conseguiu ser a mais perene e consequente de todas as instituições, realizando objectivos de natureza social e educativa, para além do apostolado. Comunidade ligada aos valores cristãos desde os primórdios, os macaenses identificaram-se largamente com a acção missionária e envolveram-se, ao longo da história, no funcionamento desses organismos, participando nas actividades religiosas e colaborando na sua obra social.
A Diocese de Macau teve à sua frente prelados portugueses até vésperas da transição, quando foi designado o primeiro bispo de etnia chinesa, D. Domingos Lam, natural de Hong Kong e formado em Macau, no Seminário de S. José, sendo fluente na língua portuguesa. Coube-lhe preparar a Igreja e os fiéis para a nova situação político-administrativa de Macau. Substituído depois por D. José Lai, natural de Macau e formado no Seminário de Leiria, a Igreja continua a ter um papel de maior relevância na sociedade de Macau, com uma intervenção muito significativa no ensino e através de organismos de solidariedade social, não tendo sido colocado nenhum obstáculo ao seu funcionamento pelas novas autoridades. Desde Janeiro do corrente ano, é bispo de Macau D. Stephen Lee, anterior bispo auxiliar de Hong Kong.
No âmbito político-administrativo, a instituição considerada a mais ge- nuína da comunidade foi o Senado de Macau, criado em 1583, vinte e seis anos após a data da fundação de Macau (1557). Nasceu de uma assembleia de moradores que escolheu para sua administração a forma senatorial, baseada nas franquias municipais outorgadas pelo Rei a algumas cidades de Portugal, adoptando, no ano seguinte, o nome de Senado da Câmara, composto por dois juízes ordinários, três vereadores e um procurador da cidade, escolhidos, anualmente, por eleição popular (Gomes 1997: 15).
A denominação de “CIDADE DO NOME DE DEUS, NÃO HÁ OUTRA MAIS LEAL” foi conferida em 1654 por D. João IV “(…) em fé da muita lealdade que conheceu nos cidadãos dela” e, a 13 de Maio de 1810, D. João VI concedeu o honroso título de Leal ao Senado de Macau (Gomes 1997: 114-115). Este organismo – Leal Senado de Macau – ostentou com o maior orgulho esta distinção real e foi sua responsabilidade a gestão da cidade até ao fim da transição. Macau adoptou, desde os primeiros tempos da sua história, o sistema municipal para gestão dos negócios públicos, e nem sempre foi pacífica a articulação de poderes entre o Senado, eleito localmente, e o Governador, designado pelo poder central em Lisboa (Gomes 1997: 110-114).
Logo após a transferência de administração em 1999, a primeira lei publicada pelas novas autoridades, conhecida por Lei da Reunificação, definiu no seu artigo 15.º, que “(…) os órgãos municipais de Macau previamente existentes são reorganizados para órgãos municipais provisórios sem poder político”, passando o Leal Senado a denominar-se Câmara Municipal de Macau Provisória, o mesmo acontecendo com o outro município de Macau, a Câmara Municipal das Ilhas, a que se acrescentou a designação “Provisória”, deixando os seus símbolos, carimbos e bandeiras de ser utilizados. Pôs-se fim, desta feita, a uma prática longa de participação cívica e de envolvimento directo dos cidadãos na vida pública. Um ano depois, a Lei n.º 17/2001 de 17 de Dezembro acabaria mesmo, para surpresa geral, por extinguir essas câmaras municipais provisórias, criando, em sua substituição, um instituto público denominado Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (Rangel 2004: 255-256). Os responsáveis por este novo organismo deixaram de ser eleitos pela população e passaram a ser designados pelo Chefe do Executivo da Região, o que não foi bem recebido pelos segmentos mais esclarecidos e activos, quer da comunidade macaense, quer da comunidade chinesa local. A cidade de Macau ficou, assim, sem Câmara Municipal e o velho Senado – Leal Senado – deixou definitivamente de figurar entre os órgãos de gestão político-administrativa de Macau.
 Sé Catedral.
Sé Catedral.
Na área da educação destaca-se a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), instituição centenária fundada em 1871 e vocacionada para o desenvolvimento da educação da comunidade macaense. Foi criada após a ordem vinda de Lisboa, em 1870, de expulsão de todos os estrangeiros que lecionavam em Macau, tornandose, pois, necessário que a comunidade macaense tomasse medidas para que a juventude de Macau não ficasse prejudicada com esta decisão. Através do esforço da Associação, a Escola Comercial Pedro Nolasco foi fundada em 1878 e durou até 1998, ano em que a Escola Portuguesa de Macau foi instalada nesse complexo escolar. A APIM tornou-se, então, membro da Fundação Escola Portuguesa de Macau, tendo, por isso, responsabilidades de gestão deste estabelecimento de ensino cuja línguaveicular é a portuguesa. A APIM tem, entre outros, os seguintes objectivos: conceder bolsas de estudo, facultar material escolar a alunos carenciados e desenvolver outras acções em prol da juventude local. A APIM também mantém em funcionamento uma biblioteca cujo acervo é, na sua maioria, em português e é responsável pela gestão directa e funcionamento do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, igualmente em língua veicular portuguesa.
Outras instituições educativas que não podem ser olvidadas, dado que lhes coube a responsabilidade de formar gerações de macaenses, tendo o português como língua de ensino, foram o Liceu Nacional Infante D. Henrique e a Escola Primária Oficial Pedro Nolasco da Silva, extintos, juntamente com a Escola Comercial, no momento da criação da Escola Portuguesa de Macau, e ainda o Colégio D. Bosco (escola industrial salesiana) e o Seminário de S. José, com internato e externato.
 Santa Casa da Misericórdia.
Santa Casa da Misericórdia.
Muitos organismos recreativos foram criados ao longo dos tempos, funcionando como “(…) centros de convivência, conforme as categorias sociais, de frequência diária (…)”, estando a vida clubista no apogeu a meados do século XX, destacandose então o Clube de Macau, o Grémio Militar (actualmente denominado Clube Militar) e o Ténis Civil, ainda agora em actividade. Além do ténis, a modalidade desportiva com a qual a comunidade macaense mais se identificou foi o hóquei em campo, muito intensamente praticado através do prestigiado Hóquei Clube de Macau. Outras agremiações foram sendo extintas com o passar dos anos, como por exemplo o Clube Desportivo Argonauta, a União Recreativa, o Clube de Caçadores de Tiro aos Pratos e o Ténis Harmonia (Fernandes 1999: 62-63).
 Casa de Portugal em Macau.
Casa de Portugal em Macau.
De natureza sindical, merece referência a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), fundada em 1987, que congrega os funcionários públicos e pugna pelos seus direitos, estando hoje também aberta à participação de outros trabalhadores.
Entretanto, foram criadas novas associações identificadas com a comunidade, como o grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau (fundado em 1993 com o propósito de apresentar peças em patuá, o crioulo português de Macau, e manter vivo este dialecto), o Conselho das Comunidades Macaenses, a Associação dos Macaenses, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau e o Instituto Internacional de Macau.
O Conselho das Comunidades Macaenses entrou em funcionamento em Novembro de 2004, sendo uma instituição de direito privado cujo objectivo principal consiste na integração dos interesses e anseios da comunidade macaense da diáspora e a sua articulação com organismos locais da mesma comunidade. O Conselho integra organizações macaenses não-governamentais da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e as Casas de Macau e organismos similares no exterior. Cabe-lhe igualmente a organização dos Encontros das Comunidades Macaenses.
A Associação dos Macaenses (ADM), instituição sem fins lucrativos fundada em 1996, tem os objectivos de estabelecer e promover a solidariedade entre os macaenses, defender a identidade cultural e dignificar a presença da comunidade macaense, no território e fora dele, e a realização de acções de beneficência.
A Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), constituída em 2001, organiza convívios, palestras, excursões e visitas, e faculta exames médicos e tratamentos destinados a idosos. Também se ocupa de questões relacionadas com pensões e reformas dos seus associados junto dos serviços oficiais competentes e promove a participação em acções de beneficência.
Em 1999 foi criado o Instituto Internacional de Macau (IIM), uma or- ganização não-governamental que promove a nível internacional a identidade cultural, económica e social de Macau, tendo como objectivo contribuir significativamente para o desenvolvimento cultural da Região Administrativa Especial de Macau. O IIM veio complementar as áreas de intervenção dos organismos macaenses, adicionando-lhe a dimensão académica e intelectual, realizando estudos sobre Macau, articulando o seu funcionamento com universidades e outras instituições de ensino superior locais e do exterior, e mantendo uma relação activa com a Europa e o mundo lusófono. Ao longo da sua primeira década de funcionamento, editou largas dezenas de títulos, em resultado dos seus trabalhos de investigação académica.
 Igreja de São Domingos.
Igreja de São Domingos.
 Associação dos Macaenses.
Associação dos Macaenses.
São de referir também pela relevância da sua actuação, como instituições de matriz portuguesa, a Casa de Portugal em Macau, criada em 2001 e com resultados muito positivos no domínio da promoção cultural e na formação, através de uma escola de artes e ofícios, e o Instituto Português do Oriente (IPOR), fundado na fase final da administração portuguesa, como centro cultural e de ensino da língua portuguesa, fazendo a coordenação pedagógica de leitorados e organismos congéneres no Extremo Oriente. Na área económica, além do Banco Nacional Ultramarino, que ainda é banco emissor, outras instituições bancárias portuguesas funcionam em Macau, onde opera a Associação Empresarial Internacional para os Mercados Lusófonos, sendo esta ligação assegurada, de forma permanente, pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo secretariado tem sede no território.
Quer antes, quer depois da transição, o Governo de Macau, reconhecendo a importância das instituições macaenses, tem apoiado financeiramente o seu funcionamento e desenvolvimento. É muito positivo constatar o dinamismo e a afirmada utilidade destas instituições, que souberam sobreviver e crescer para além da transferência do exercício da soberania.
 Clube Militar.
Clube Militar.
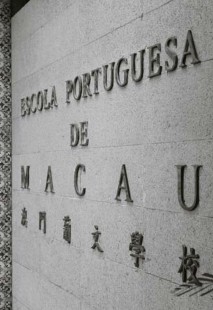 Escola Portuguesa de Macau.
Escola Portuguesa de Macau.
Bibliografia
- Fernandes,Henrique de Senna (1999). “Macau de Ontem” in Luís Sá Cunha (org.) (1999). Macau di nôs-sa coraçám – Memorandum afectivo para os participantes no III Encontro das Comunidades Macaenses. Pp. 51-69. Macau: Fundação Macau.
- Gomes,Luís Gonzaga (1997). Macau – Um Município com História. Macau: Leal Senado de Macau.
- Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Macau (1969). IV Centenário da Santa Casa da Misericórdia da Macau 1569-1969. Macau: Imprensa Nacional de Macau.
- Rangel, Alexandra Sofia (2012). Filhos da Terra – A Comunidade Macaense, Ontem e Hoje. Macau: Instituto Internacional de Macau.
- Rangel, Jorge A. H. (2004). Falar de Nós: Macau e a Comunidade Macaense – acontecimentos, personalidades, instituições, diáspora, legado e futuro. Volume I. Macau: Instituto Internacional de Macau.