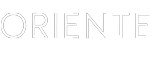- Details
- Revista
- Hits: 55166
Paulo Duarte
Doutorando na Université Catholique de Louvain e Investigador convidado na Cheng-chi University, Taipé
Tendo por fio condutor a questão “Pode a China ser considerada um ator ameaçador no século XXI?”, em ‘Metamorfoses no Poder: rumo à hegemonia do dragão? ’ analiso o caminho que este país tem vindo a percorrer, os seus objetivos, bem como as estratégias das quais se serve para os alcançar.1Passo a enumerar as conclusões resultantes da minha investigação. Creio que a China não deve ser considerada, atualmente, um ator ameaçador.2
Potência emergente, num mundo ‘uni-multipolar’, marcado por um equilíbrio incerto e perturbado, a China sabe que a potência das grandes nações nunca permanece constante. Tendendo, de acordo com certos autores, a querer contestar a organização hierárquica do sistema internacional e o lugar do(s) dominante(s), ela não dispõe, contudo, ainda dos meios necessários para a concretização das suas ambições. A esse nível, ela é, por conseguinte, ainda ‘frágil’, devendo recorrer à estratégia do ‘soft balancing’ que assenta numa combinação hábil entre a força das armas e a dos princípios. Trata-se, basicamente, de uma multiplicidade de instrumentos não militares que têm como principal objetivo ‘frustrar’ e atrasar as políticas unilaterais do hégémon. Com efeito, embora a China tenha ambições (apesar do seu low profile), não é, no entanto, ‘suicida’. Isto quer dizer que o Império do Meio não tem em vista o ‘choque frontal’ com a superpotência, porque tem consciência dos ensinamentos do passado: os que se opuseram à potência dominante viram, geralmente, as suas ambições fracassar.
 A Estratégia chinesa do ‘Colar de Pérolas’.
A Estratégia chinesa do ‘Colar de Pérolas’.
Fonte: http://globalbalita.com/?s=china+string+of+pearls
Mas, o facto de a China recorrer a métodos ‘mais suaves’, para não desafiar diretamente a hegemonia militar dos Estados Unidos, não significa, no entanto, que ela não suscite alguma apreensão junto dos seus rivais. Com efeito, os americanos, mas também os japoneses, os russos, os indianos, entre outros, vêem com apreensão a modernização do armamento da China, em especial a sua armada. O que espera Pequim do mar? O comportamento naval chinês neste novo século é estreitamente influenciado pelas teses do norte-americano Alfred Thayer Mahan. A China parece, com efeito, ter compreendido o que os Estados Unidos e outras potências marítimas sabiam já há muito tempo: o comércio subentende uma marinha mercante e uma marinha de guerra para a proteger, bem como pontos de apoio (abastecimento e reparação) nas vias marítimas. Do mesmo modo, Pequim apercebeu-se que uma potência que não compreende a importância dos oceanos é uma potência sem futuro. Neste sentido, a China está consciente que o seu futuro, em certa medida, está traçado nas águas. De outro modo, não poderíamos compreender por que é imperativo para Pequim proteger as linhas marítimas de comércio (a estratégia do ‘colar de pérolas’ é exemplo disso), mas também projetar a sua potência nos oceanos.
Taiwan é aí, evidentemente, uma questão essencial, devido à importância estratégica da ilha. No entanto, esta é basicamente apenas uma peça no puzzle de ilhas, ilhéus, arquipélagos e outras passagens marítimas cruciais, alvos da estratégia marítima chinesa. À medida que a China se tornar mais confiante em si própria, tenderá a investir numa estratégia de sea denial, afastando-se, por conseguinte, gradualmente, da simples defesa das costas chinesas para construir, a longo prazo, uma marinha capaz de operar em alto mar.
Para além do mar, a estratégia integral chinesa percorre também o seu caminho por terra. Na Ásia Central, por exemplo, Pequim está, fundamentalmente, preocupado com a estabilização da sua periferia, bem como com o desenvolvimento das suas províncias sem litoral, como o Xinjiang. A China procura diversificar as suas parcerias com os estados regionais, não só para fazer face a desafios de segurança (terrorismo, separatismo, entre outros), mas também para diversificar as suas fontes energéticas. Se, por um lado, ela não quer depender demasiado da Rússia, a nível energético, por outro, não procura desafiar este grande vizinho que desconfia, por seu lado, da atração de Pequim pelas repúblicas centro-asiáticas. A Organização de Cooperação de Xangai atesta, de resto, os limites de uma cooperação multilateral na Ásia Central. O caso da Rússia e da China é, naturalmente, elucidativo. Com efeito, se a primeira se interessa, sobretudo, pelas questões de segurança, a segunda privilegia, essencialmente, os assuntos económicos. A isto, devemos ainda acrescentar a ‘frustração’ de uma China que viu os seus parceiros russos e centro-asiáticos manifestarem, ‘mais depressa do que imaginava’, um apoio quase incondicional aos Estados Unidos, após os atentados do 11 de setembro. Mas se a relação sino-russa é marcada, simultaneamente, pela cooperação e pela suspeita, não é a única. Com efeito, com a Índia, as relações também são ambivalentes. Nova Deli desconfia das ambições da China no Oceano Índico (território exclusivo indiano), mas também na Ásia Central. E, além disso, um crescimento da interdependência sino-indiana ao nível da segurança regional, não significa, porém, que tenham sido realizados progressos substanciais nas relações entre os dois países. Na realidade, os seus diálogos limitam-se a simples trocas rotineiras de posições oficiais, em vez de explorar as opções com vista a uma cooperação prática.
O continente africano é uma outra peça essencial na estratégia integral chinesa. Mas, uma vez mais, a estratégia de Pequim suscita apreensão. Além da colaboração com ‘estadospária’, ou do monopólio em matéria de exploração de recursos energéticos – que causam a indignação dos ocidentais – acrescente-se, ainda, a perceção negativa que a presença chinesa cria em numerosos países africanos. Tal perceção explica-se, designadamente, pela negligência relativamente ao ambiente e à segurança no trabalho, mas também pelo impacto nefasto da concorrência chinesa no comércio local.
À semelhança da Ásia do Sul, o continente africano é, também ele, um ‘laboratório’ magnífico para testar os efeitos do soft power e do hard power chinês. Para além dos Institutos Confúcio, dos donativos e bolsas atribuídos, dos intercâmbios de estudantes, da formação dada aos militares africanos, da venda de material militar (só para citar alguns exemplos), a questão de Taiwan também aí está presente. Com efeito, o ‘modelo chinês’, embora se abstenha de submeter a sua parceria africana a qualquer ‘condicionalismo’ ou ‘imposição’ de normas democráticas (contrariamente aos estados ocidentais) face aos estadospária, conduz simultaneamente um jogo de sedução para isolar Taipé ou enfraquecer politicamente a candidatura da Índia e do Japão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (enquanto membros permanentes).
Seja como for, o debate sobre a ‘ameaça’ chinesa não se limita unicamente à análise da apreensão e/ou receios que a estratégia de Pequim (relativamente ao mar, a África e à Ásia Central) causa no Ocidente e em países como a Índia ou a Rússia. Com efeito, é necessário que nos debrucemos, igualmente, sobre as dificuldades internas da China no sentido de compreendermos se este país deve ou não ser entendido como ameaçador. A este respeito, constatamos que, do ponto de vista interno, a China é demasiado frágil para ameaçar seja quem for. Exceto a si própria. Evidentemente, o crescimento económico é fundamental para a afirmação do Império do Meio, mas não decisivo por si só. Este baseia-se ‘num desastre ambiental sem precedentes, nas tensões e perigos crescentes, cujo mais evidente está ligado à estabilidade social’. Também não podemos esquecer as falências do sistema de saúde, o desequilíbrio dos sexos, o envelhecimento progressivo da população e a criação de uma ‘sociedade de filhos únicos’, a diferença de rendimentos sempre crescente entre cidade e campo, as desigualdades educativas gritantes, as manifestações ligadas à corrupção, aos acidentes nas minas e nas indústrias…
 Os Presidentes Obama e Xi Jinping.
Os Presidentes Obama e Xi Jinping.
Fonte: www.epochtimes.com.br/muitas-dificuldades-relacoes-eua-
china-dizem-especialistas/#.Vj6lbTgnyP8
Há ainda outros paradoxos ligados a uma economia de forte crescimento. Com efeito, a população continua a ser ‘relativamente’ pobre, sendo o nível de vida dos chineses bastante baixo quando comparado com o dos habitantes dos estados desenvolvidos. Quanto ao setor financeiro, apesar das reformas dos últimos anos, este continua pouco eficiente e inadaptado à sofisticação crescente da economia interna.3 Para além de todos estes fatores, o Partido Comunista chinês revela-se, segundo certos autores, ‘mais um obstáculo do que uma ajuda ao desenvolvimento contínuo da China’. Além disso, como vimos, ‘o Partido pode ter desempenhado um papel histórico importante, mas que cria, doravante, as condições da sua extinção’.
A nível militar, embora a China modernize as suas forças armadas, há, contudo, ainda um longo caminho a percorrer já que estas são (ainda) globalmente mal equipadas. O seu atraso tecnológico não as impede, no entanto, de encarar a hipótese de um conflito, a médio ou longo prazo, com os Estados Unidos. Pequim está, a este respeito, consciente que um Império em declínio económico, e que continua a ser muito potente a nível militar, constitui uma fonte de potencial conflito no futuro. Por sua vez, Washington considera a China, se não como uma ameaça à sua segurança, ou mesmo um inimigo, pelo menos como um risco potencial.
Impregnadas de um misto de paixão recíproca e de desconfiança mútua, as relações sino-americanas oscilam entre a cooperação e a rivalidade. Com efeito, embora a China se revele um parceiro indispensável para as questões da proliferação nuclear e do terrorismo, não deixa, todavia, de ser encarada em certos círculos políticos norte-americanos como um ‘strategic competitor’. Pequim contesta, por seu lado, a política de cerco que Washington conduz a seu respeito, de forma a circunscrever a potência chinesa. Ambígua, a atitude norte-americana face à China baseia-se num misto de prudência tática e de indeterminação estratégica. Certos autores criaram, além disso, o termo de ‘endigagement’, que traduz uma estratégia destinada a ‘isolar politicamente Pequim’, procurando, contudo, manter simultaneamente uma ‘parceria ativa no que concerne às questões económicas e comerciais’. Atuando nos ‘mesmos terrenos’ (nomeadamente em África e na Ásia), as duas potências querem garantir o seu acesso às matérias-primas, bem como controlar os ‘gestos do outro’. O futuro da sua relação, incluindo o risco de um conflito potencial, será determinado essencialmente pela maneira como Washington e Pequim fizerem face à sua competição económica, à questão de Taiwan, aos direitos do homem e à governança mundial. Mas, neste momento, os dois países não são nem ‘inimigos supremos’ nem ‘parceiros duradouros’.
Não obstante todas estas apreensões, rivalidades e desconfiança, ‘a ameaça chinesa’ é, por ora, reduzida, tendo em conta as razões apresentadas. Tal não quer dizer, contudo, que os chineses não lutem para reencontrar o caminho da ‘tentação imperial’, para voltarem a ser a ‘grande nação’ que foram no passado. Esta amálgama de ‘destino manifesto’, de ‘missão histórica’, de nacionalismo, de prestígio e nostalgia de um passado glorioso poderá, um dia, fazer da China uma superpotência. Como sublinha H. Christophe, “excetuando algum grande incidente, imprevisto ou um grave erro de estratégia por parte do Partido Comunista chinês, Pequim parece dispor de todas as vantagens em mão para o conseguir”.4 De facto, “as fraquezas de hoje serão, talvez, as forças de amanhã, sendo dificilmente concebível que um estado tão grande, territorial e demograficamente, não desempenhe um papel mais importante no futuro”.6 Nesse momento, ainda longínquo e incerto, não é de excluir que a China se torne, um dia, um ator ‘ameaçador’. Mas esta possibilidade não deve ser encarada como um fenómeno anormal. Pelo contrário, ela inscreve-se na dinâmica natural do ‘nascimento e declínio das grandes potências’, onde ora um ou vários estados dominarão, ora declinarão. Além disso, o comportamento da China parece inspirar-se largamente nos preceitos de Lao Tseu: “Não nos coloquemos adiante, mas não fiquemos para trás”, ou “o maior conquistador é o que sabe vencer sem batalha”.6
Breves considerações sobre Portugal e a Ásia Central
Algumas considerações a respeito dos horizontes das relações entre Portugal e os Estados da Ásia Central que resultam da minha pesquisa de campo.
 Mapa da Ásia Central.
Mapa da Ásia Central.
Fonte: https://oretornodaasia.wordpress.com/2012/12/06/ portugal-
e-a-asia-central/central_asia2/
Desde a independência das Repúblicas centro-asiáticas que Portugal tem mantido relações bilaterais com estes países. Não dispondo de embaixadores residentes em cada um dos cinco Estados da região, é a embaixada de Portugal em Moscovo que está encarregada da missão diplomática portuguesa na região, à exceção do Turquemenistão, sendo os assuntos deste país acompanhados pela embaixada portuguesa em Ancara. Investigadores como Licínia Simão sublinham que “as relações entre Portugal e a Ásia Central são claramente insignificantes”.7 Embora estas tenham vindo a evoluir desde “meados da década de 2000”, importa sublinhar que “Portugal segue, no essencial, a tendência definida pela União Europeia e pelos seus Estados membros”, a qual se pauta por “um aumento da atenção política e das preocupações com a segurança”.8 Ao nível bilateral, a política externa portuguesa face à região tem evoluído para uma postura pragmática, guiada, fundamentalmente, pela “diplomacia económica” com o intuito de “angariar novos mercados e investimento, especialmente nas relações com o Cazaquistão”.9Segundo dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o comércio bilateral entre Portugal e as Repúblicas centro-asiáticas é pouco significativo, sendo que a AICEP considera que o risco de investimento nos países da região é, geralmente, elevado - máximo no caso do Quirguistão (7 é o valor máximo e 1 o valor mínimo) – e mais baixo, mas, ainda assim, considerável, no caso do Cazaquistão (risco de 5).10 Das cinco Repúblicas centro-asiáticas, o Cazaquistão é o parceiro mais ativo no comércio bilateral (e com maior diversidade de produtos comercializados) com Portugal, muito embora este seja, para todos os efeitos, baixo, como referido.
Um outro especialista, José Félix Ribeiro (2012)11, questionado sobre a eventual importância da Ásia Central no quadro da diversificação energética portuguesa, é da opinião que “Portugal poderá, aparentemente, beneficiar de mais vantagem em explorar uma ligação mais Atlântica, em termos de geografia, e de posicionamento”. Este autor antevê que “a possível emergência dos Estados Unidos como exportador de gás natural”, num contexto em que “o Mediterrâneo e o Médio Oriente tenderão a entrar num período de grande convulsão”, confere, desse ponto de vista, a Portugal “mais vantagem em procurar a bacia Atlântica – desde a Noruega até sul – do que, propriamente, a Ásia Central”.12 Embora F. Ribeiro admita não ter conhecimento de uma qualquer ‘estratégia’ portuguesa para a Ásia Central – “exceto, talvez, por parte da Fundação Calouste Gulbenkian”, através da filial Partex-Oil and Gas Company, que é “um dos investimentos portugueses mais significativos na Ásia Central” –, Licínia Simão é, por sua vez, relativamente mais moderada no balanço. Para esta autora, “a diplomacia económica [portuguesa] carece de uma visão estratégica e de um apoio político de forma a produzir resultados significativos”.13 Daqui resulta – como foi possível, aliás, comprovar, na viagem que realizei, de 28 de setembro a 18 de outubro de 2012, ao Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão – que Portugal é um ator (praticamente) ausente no terreno14, “quando comparado a outros Estados membros da União Europeia, como a Alemanha ou a França”, que têm sido “os principais defensores de uma intensificação das relações entre a União Europeia e a Ásia Central”.15 Inclusivamente, como refere, e bem, Licínia Simão, na comparação com países como Espanha, “geograficamente distantes da região”, as empresas portuguesas “têm ficado bastante aquém”, no que respeita à presença na Ásia Central.16



Deslocação do autor à Ásia Central. Fonte: Pesquisa realizada pelo autor (2011 e 2012) na Ásia Central.
Qual a razão para tal? Muito provavelmente, o tal peso estratégico da bacia atlântica para Portugal, como referi há pouco, ao citar o pensamento de José Manuel Félix Ribeiro, que é bem acolhido, não só ao nível empresarial como, também, pelo próprio Governo português, o qual tem priorizado as relações e investimentos com os países de língua portuguesa em detrimento da ‘remota’ Ásia Central. Numa carta endereçada ao Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, terminei a minha argumentação colocando, justamente, a tónica numa preocupação também cara a Licínia Simão e, presumo, que a muitos outros investigadores portugueses, que diz respeito ao facto de “o Governo Português priorizar sistematicamente as relações com outras áreas geográficas, como África”.17 Com efeito, numa ocasião em que tantos tendem a perceber o caminho para sul, para África, para o Brasil, em suma, para as antigas colónias portuguesas (como se pode constatar através da quantidade, eventualmente, excessiva, no meu entendimento, de bolseiros que se dedicam à investigação de temáticas afetas à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), não tenho conhecimento de que haja um bolseiro, em Portugal, a focar a sua investigação na Ásia Central. Tal poderá vir a ser prejudicial, já que, ‘mais do mesmo’, é persistir em não vislumbrar outros horizontes. Ora, a Ásia Central é, atualmente, um cenário geopolítico e geoestratégico onde russos, chineses, americanos, e os próprios europeus (entre outros, uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, através das embaixadas que possuem na região) parecem já ter compreendido que o futuro também passa pelo oriente, neste caso, pela Ásia Central. Ignorar tais factos, implica, inevitavelmente, adiar o investimento e as oportunidades – que África e/ou o Brasil (por muito importantes que sejam do ponto de vista económico, político, cultural, estratégico, entre outros) não poderão, por si só, trazer –, visto que Portugal, bem como, em termos gerais, qualquer outro país consumidor de recursos energéticos necessita de diversificar rotas e abrir caminhos, como reconhece, aliás, José Félix Ribeiro et al (2011), no seu livro Uma Estratégia de Segurança Energética para o Século XXI em Portugal.18
Este é, pois, o momento, tornado, aliás, claro pelo Vice-Ministro Paulo Portas, que tanta importância tem atribuído à criação e/ou reforço de laços diplomáticos e económicos com países ricos em recursos energéticos, como é o caso dos Estados do Médio Oriente. Paralelamente a este impulso político-económico, não seria despropositado esboçar uma colaboração universitária com a região, de forma a dinamizar o intercâmbio de alunos e docentes, uma vez que, como sublinha Licínia Simão, “ao nível da sociedade civil, não existe uma cooperação (bem) delineada; o mesmo é verdade para o caso das universidades, as quais ainda se encontram numa fase muito incipiente de desenvolvimento de acordos de intercâmbio com a região, no quadro do Programa Tempus”.19
É, por conseguinte, fundamental condensar e canalizar recursos humanos, no que diz respeito aos investigadores que estudam as temáticas relacionadas com a região, promover conferências, com o intuito de contribuir para mitigar o desconhecimento face à mesma. Como pude testemunhar (no âmbito da viagem realizada ao Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão), todos os institutos, universidades e investigadores por mim abordados na região manifestaram interesse em ser eventuais parceiros académicos de Portugal na criação de um centro de estudos sobre a Ásia Central, algo que já existe, contudo, em outros países europeus, mas não em Portugal.20Importa, também, aproveitar (melhor) as pontes institucionais disponíveis em Portugal. Refiro-me, por exemplo, à existência de um Alto Representante da Rede Aga Khan em Portugal, o Dr. Nazim Ahmad, que me recebeu atenciosamente aquando da preparação das duas deslocações aos países da região, e me colocou em contato com elementos da Rede Aga Khan no Tajiquistao e Quirguistão. Num momento em que existem, por exemplo, Institutos Confúcio, Cambridge School, Alliance Française, GoetheInstitut, entre outros, na região, não seria interessante Portugal apostar, à semelhança de outros países europeus, na promoção da língua portuguesa, através, por exemplo, da inauguração de Institutos Camões na região? Enquanto vetor da identidade e da cultura lusitana, a língua pode ser, com efeito, um bom instrumento para Portugal suscitar interesse e se dar, simultaneamente, a conhecer aos povos centro-asiáticos, num contexto em que muitos deles ponderarão, quiçá, emigrar para Portugal, ou para o Brasil, com vista à concretização do seu ‘sonho ocidental’. Importa, talvez, refletir se não estarão certas elites portuguesas, de forma redundante, a apostar num ‘excessivo’ desenvolvimento da lusofonia em países já lusófonos, num momento em que espanhóis, franceses, ingleses, alemães, entre outros europeus, procuram, a seu turno, promover a sua língua e cultura na Ásia Central. Não será tempo de Portugal procurar fazer o mesmo? Embora não duvide da importância da Ásia Central no quadro da estratégia energética da União Europeia, Félix Ribeiro questiona, porém, até que ponto esta é uma estratégia sólida, por um lado, “porque a Alemanha tem uma relação mais autónoma e bilateral com a Rússia”, e, por outro, porque se tem verificado um problema muito grande de decisão em torno do projeto Nabucco, sendo que “hoje aparecem outros sucedâneos para o corredor meridional”.21
Além disso, como nota este especialista, “a grande novidade é que Israel, Chipre e Grécia possuem um vastíssimo potencial de hidrocarbonetos no seu offshore, algo que há cerca de cinco anos ninguém sabia”.22 Outro fator que aumenta a relevância da Ásia Central para a União Europeia é o facto de esta não dispor de “capacidade militar”, sendo que, por este motivo, “não lhe convém depender excessivamente dos recursos energéticos do Golfo Pérsico”.23 Na prática, como explica F. Ribeiro, “uma relação estreita com o Golfo é uma relação subordinada aos Estados Unidos”, sendo que este especialista acredita ser do interesse da União Europeia “apostar na bacia do Cáspio para evitar quer o Golfo Pérsico, quer a Rússia”.24
Não quer dizer, porém, que, ao enveredar pelo caminho do Cáspio/Ásia Central, a União Europeia não enfrente “alguns riscos”, uma vez que para F. Ribeiro (2012), ela passaria a estar “em competição com a China, nomeadamente”.
Em conclusão, embora todas estas considerações geopolíticas sejam importantes, a geografia também o é, e, neste sentido, é de prever que, pelo menos a curto e médio prazo, a margem de contribuição de Portugal para um reforço das relações entre a União Europeia (e seus respetivos interesses energéticos, políticos e securitários) e a Ásia Central permaneça limitada. A menos que haja uma reflexão profunda acerca da promoção da lusofonia, para que esta não arrisque ser redundante, como alertei, e passe, ao invés, a considerar outras regiões que, até ao presente, não têm despertado o interesse económico e cultural português, então não se deverá esperar que a postura lusa face à remota Ásia Central evolua. Por outras palavras, enquanto Portugal estiver decidido a focar o seu olhar sistemática e fundamentalmente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e não ousar revisitar a essência do seu passado de conquistador de Novos Mundos, deixando para trás o ‘Velho do Restelo’ que não ousa partir por eventual receio e desconhecimento, então é de prever a continuidade do ‘português suave’, do português reativo, que não empreende, mas se limita a reagir, quase por necessidade, às iniciativas alheias.
- Uma breve nota de caráter metodológico. No âmbito da investigação subjacente à escrita da presente monografia foram efetuadas duas deslocações à Ásia Central, uma de 3 a 11 de setembro de 2011 ao Cazaquistão, a convite da Diretora do Suleimenov Institute, em Almaty, e a segunda deslocação de 28 de setembro a 18 de outubro de 2012 a dois outros países, além do Cazaquistão: Quirguistão e Tajiquistão (entre as principais cidades visitadas destaquemos Almaty, Bishkek, Naryn, Osh, Dushanbe). A planificação das duas deslocações à Ásia Central envolveu uma pesquisa exaustiva e morosa de universidades, especialistas, diplomatas, docentes, Organizações Não-Governamentais, tendo a Rede Aga Khan, entre muitos outros atores, fornecido um apoio considerável, não só ao nível da seleção de especialistas locais, como na facilitação de entrevistas à distância, por via telefónica, bem como ainda na visita aos vários polos da University of Central Asia (no Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão). O meu estudo baseou-se num trabalho de pesquisa, ao nível bibliográfico, documental, mas também de campo, através da realização de entrevistas não só a docentes, como também a investigadores, políticos e embaixadores, entre outros, já que estes ajudam a compreender melhor o papel e interesses da China, bem como de outros atores no espaço centro-asiático. A pesquisa de campo foi efetuada, através de entrevistas realizadas não só em Portugal, mas também, e fundamentalmente, na Ásia Central a figuras-chave no âmbito da problemática estudada. Algumas dessas entrevistas foram realizadas por via telefónica para os Estados Unidos, França, entre outros países, e as restantes por entrevista presencial quer em Portugal, quer no âmbito das duas deslocações à Ásia Central. Contudo, alguns dos entrevistados na Ásia Central solicitaram o anonimato ou, em alguns casos, pediram para serem citados como especialistas locais.
- Evidentemente, a abordagem que utilizei é uma abordagem geral, a qual analisa o conjunto dos elementos (militares, económicos, políticos e culturais) dos quais uma potência (neste caso a China) se serve para proteger os interesses que considera vitais, assim como para se afirmar na cena internacional. No entanto, estou consciente que um bom número de aspetos não foi aqui estudado, não porque não sejam importantes, mas porque optei por examinar, sobretudo, aqueles que me parecem mais relevantes para a análise da ‘ameaça chinesa’.
- Acrescentemos, também, as deficiências da bolsa que viveu anos negros devido a uma enorme queda das cotações, a irregularidades de vária ordem, à falta de transparência e à ausência de uma gestão eficaz.
- Christophe, H. (2006). La Chine pourrait-elle devenir la prochaine superpuissance? Analyse de l’évolution d’un pays en plein essor selon les différents critères théoriques de “puissance”, Mons: Faculté de Sciences Sociales et Politiques, p. 8.
- Ibidem.
- Cit. por Karaljija, N. (2006). Le Rôle de la Chine depuis 1949: Puissance Régionale ou Hégémon ?, Louvain-la-Neuve : UCL, p. 3.
- Simão, L. (2012). “Portugal and Central Asia”, em EUCAM – Policy Brief, n.º 5, August, p. 1.
- Ibidem.
- Ibidem.
- AICEP Portugal Global (2013). Informação sobre comércio com as Repúblicas centro-asiáticas.
- Ribeiro, J. (2012). Entrevista Pessoal. Lisboa.
- Ibidem.
- Simão, L. Op. Cit., p. 1.
- Embora simbólico, a respeito da ausência portuguesa (ou, pelo menos, de cidadãos portugueses) na região, achei curioso, aquando da minha primeira ida (setembro de 2011) ao Cazaquistão, ter sido abraçado na rua, enquanto conversava ao telemóvel, em Almaty, por um estudante brasileiro. Visivelmente contente, o mesmo explicou-me que, desde que lá estava a estudar, acerca de seis meses, eu era a primeira pessoa a quem ele ouvira falar português.
- Simão, L. Op. Cit., p .1.
- Ibidem. A título de exemplo, no âmbito da preparação da minha primeira ida ao terreno centro-asiático (setembro de 2011), cheguei a telefonar para a sede da companhia REPSOL, em Espanha, com o objetivo de solicitar informações e eventual autorização, no sentido de poder entrevistar responsáveis locais desta companhia petrolífera espanhola no Cazaquistão. Optei por mencionar aqui este facto, aparentemente banal na preparação de uma viagem de investigação, mas que atesta simbolicamente a relevância que uma companhia petrolífera da vizinha Espanha confere à Ásia Central, contrariamente ao que se tem verificado, até ao presente, por exemplo, com a portuguesa GALP.
- Ibidem.
- Ribeiro, et al (2011), Uma Estratégia de Segurança Energética para o Século XXI em Portugal. Imprensa Nacional.
- Simão, L. Op. Cit., p.3.
- Destaque-se, por exemplo, o facto de alguns alunos da Osh State University me terem questionado (no final de uma breve exposição que realizei naquela universidade quirguize, e na qual eles haviam ficado interessados) sobre que medidas, em concreto, deveriam tomar para poderem vir estudar em Portugal. Trata-se de um mero exemplo, mas cujo simbolismo atesta a importância de se começar, na prática, a trabalhar para definir e elaborar programas de intercâmbio académico entre Portugal e as Repúblicas centro-asiáticas.
- Ribeiro, J. (2012). Op. Cit.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Details
- Revista
- Hits: 80314
Beatriz Hernández
Centro de Estudos de Comunicação e Cultura
Universidade Católica Portuguesa
Introdução: a memória como força política
O clássico chinês Os Anais das Primaveras e dos Outonos (Chunqiu Linjing) conta a história do rei de Yue, Goujian (496-465 a.C.), quem, após ter sido derrotado na batalha do Monte Kuaiji (actual Shaoxing) pelo seu arqui-inimigo Fuchai (495-473 a.C.), rei de Wu, voltou passados 3 anos de cativeiro para o seu país, decidido a lembrar-se da humilhação causada à sua estirpe real pela derrota. Já no seu palácio, trocou a sua confortável cama por um monte de lenha e no teto das suas dependências pendurou uma vesícula biliar para que, ao levantar a cabeça batesse nela ou para quando bebesse ou comesse algo, a sua visão lhe despertasse um sabor amargo semelhante ao da derrota. Além disto, mandou construir uma cidade no Monte Kuaiji onde instalou a capital do seu reino, para jamais esquecer a sua vergonhosa mostra de debilidade, tal como narra Cohen (2003: 149).
O século XX começava na China de um modo semelhante ao autoimposto pelo rei Goujian: com um discurso que apelava a rememorar, a promover um sentimento patriótico de luta para ressarcir o dano causado e a não esquecer. A China, desejosa de ultrapassar a afronta causada por potências ocidentais após as Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860), tinha que olhar para trás e reflexionar sobre o que tinha acontecido, tinha que apelar à memória e refletir para voltar a ser a nação que um dia foi. Não se podia passar por alto o facto de o reino de Yue ter acabado por derrotar o de Wu como revanche, passados 20 anos após a inesquecível derrota.
Neste ensaio pretendemos abordar a atitude dos chineses em relação ao passado de modo a delinear – grosso modo – de que forma foi preservado e de que forma este mesmo passado atuou sobre o presente em diferentes épocas, especialmente a mais recente e ainda latente “dinastia” maoísta e o seu legado. Neste período, onde história e realidade estiveram fortemente influenciadas pela ideologia ditada pelo líder, recordar implicava recorrer ao bloco de cera que Sócrates afirmava existir nas nossas almas – como detalha Capeloa Gil (2011). Este tinha sido oferecido como presente pela mãe das Musas, Mnemósine (Memória), e é nele onde ficam imprimidos pensamentos e percepções. O que esteja lá anotado poderá ser rasurado, mas nunca apagado definitivamente, pelo que o modo como lidamos com este registo condiciona o presente.
Mas o que será que acontece quando o que é anotado nesse bloco de cera consiste num argumento manipulado, construído e orquestrado pelo poder e imposto massivamente numa sociedade quase de laboratório? Poderão esses ditados ser considerados memória ou serão simplesmente sobrepostos sobre as lembranças pessoais próprias? Terá este um sentimento partilhado a modo durckheimniano pelo grosso de uma sociedade sem individualismos? Ou será antes uma memória baseada no narcisismo das pequenas diferenças? Serve a memória como um implacável lembrete de algo que se preferiria esquecer ou algo que se luta por recordar? Em que medida o silêncio fala entre quem cala, acumula potência e protege as lembranças? Como sobrevivem na China os heróis e os mitos históricos?
Memórias sobre o passado revolucionário da China experimentaram, segundo Olick et al. (2001), o boom das lembranças políticas e culturais, sobre tudo a partir da década dos 90 e os primeiros anos do 2000. Batizado como “Febre Mao”, este boom voltou como uma moda às ruas do país, algo que não deixou de surpreender no Ocidente. Por um lado, séries de televisão, documentários e músicas. Por outro, telefones com carcaças decoradas com imagens dos pósteres de propaganda maoísta, objetos de merchandising nas feiras de antiguidades e até restaurantes e experiências culinárias com “menus revolucionários” que imitam os servidos nas alturas de grandes carências... Em resumo: no decorrer de uma suposta era de reforma pós-revolucionária, o que encontramos parece ser um exercício de memória revolucionária, como constatam Lee e Yang (2007).
Estas questões surgem igualmente derivadas da imagem enigmática, às vezes complicada e no limite bizarra, sobre este país que é frequentemente partilhada no Ocidente. Se os chineses não deixam de nos surpreender por começarem a construir as casas pelo telhado, quando escolhem o branco como símbolo de luto e perda, ou quando apertam a sua própria mão para cumprimentar alguém, será que no campo dos passados, dos presentes e dos futuros os seus usos e procedimentos são, pelo contrário, partilhados connosco?
História, Memória e legado cultural
É verdade que na China se sente por todo lado a presença do passado, transborda nos cantos mais imprevistos e impregna basicamente quase tudo – basta apontar que hoje em dia a sua escrita mantém-se praticamente imutável relativamente à forma como foi criada há mais de dois mil anos. Mas, curiosamente, este passado permanece inapreensível, fisicamente ausente da paisagem chinesa e parece antes ficar encalhado no reduto mais pessoal e íntimo da sociedade. Como Leys (2005: 13) anota, o que surpreende o visitante na China é a “monumental ausência do passado”, circunscrito a um número de conjuntos célebres que restam do que a China foi. Assim, continuando com a leitura do mesmo autor, mais que habitar as pedras em ruínas – como é típico a Ocidente – “na China o passado habita os homens. Este passado é ao mesmo tempo espiritualmente ativo e fisicamente invisível”. Todavia, essa “estranha nudez da paisagem monumental chinesa” não pode ser inteiramente atribuída ao caos iconoclasta da era maoísta ou ao pesadelo destrutivo da Revolução Cultural, mas talvez encontre argumentos que a expliquem no peculiar modo do país lidar com certas etapas constrangedoras da sua história.
 Obra do artista Zhang Xiaogang intitulada "Bloodline: Big Family No.3"
Obra do artista Zhang Xiaogang intitulada "Bloodline: Big Family No.3"
vendida por 12.1 milhões de dólares através da Sotheby's Hong Kong.
A China é, entre as mais antigas civilizações do nosso planeta, a única cuja continuidade nunca foi interrompida e ainda continua viva. Paradoxalmente – como assinala Leys (2005: 11) – “o respeito pelos valores espirituais e morais dos Antigos parece ter-se combinado quase sempre com uma indiferença e uma curiosa negligência em relação à herança cultural do passado”. Daí talvez essa febre quase herege e indolente pelas expressões materiais da sua cultura; daí talvez também o simples facto de os materiais e métodos utilizados para erigir monumentos na antiguidade não se esforçarem em desafiar o agressivo passar do tempo, mas sim claudicarem e concederem a vitória à erosão dos séculos, ao utilizarem-se madeiras ou argilas de entrada perecíveis e ao depositar a eternidade, não na obra, mas sim no arquiteto. Segundo o mesmo autor (ibid., 22), poderíamos até questionar:
“(...) se não existirá uma certa relação entre o inesgotável génio criador de que a civilização chinesa deu provas ao longo dos tempos e o fenómeno periódico da tábua rasa que impediu essa cultura de sufocar sob o peso dos tesouros acumulados pelos séculos. À semelhança dos indivíduos, também as civilizações têm provavelmente a necessidade de uma certa margem de esquecimento criador. Um excesso de recordações pode provocar uma forma de inibição; uma memória infalível e total pode constituir uma maldição (...)”
 Empregados do restaurante Red Classic no distrito de Chaoyan
Empregados do restaurante Red Classic no distrito de Chaoyan
(Pequim) vestidos de Guardas Vermelhos durante um espetáculo.
(© China Daily/Asia News Network)
Esta sobrecarga mental e decadência neurológica que afectam a memória individual põe em risco a memória colectiva não só pelo desaparecimento de gerações que foram testemunhas, mas também por políticas de negação que o poder de turno acaba por impor perante a impossibilidade de distribuir responsabilidades de um modo conciliador e firme (Olick et al. 2011). Se olharmos para a historiografia clássica chinesa – seguindo a leitura que WeigelinSchwiedrzik (2006) faz dum texto de Jan Assmann – compreendemos que esta se caracterizava por produzir uma master narrative empenhada em preencher os espaços entre umas dinastias e outras de forma que conseguisse legitimar a mudança de regime, justificasse a queda da casa imperial anterior, ao tempo que contribuísse para a persistência e sobrevivência do Império sob o novo poder estabelecido. É a conhecida mudança cíclica dentro da tradição que servia para começar o mesmo de um outro modo; na realidade, nova dinastia, mas dinastia na mesma.
Este desejo de “partir do zero” – que começa a debilitar-se com a queda da última dinastia imperial e a proclamação da Primeira República em 1912 – parece não se aplicar ao período maoísta, quando o slogan “use the past to serve the present” (Gu wei jin yong) condicionou o modo de olhar para o passado e concedeu um forte valor à memória histórica, focada nos lamentos do “Século de Humilhações”. Mao, familiarizado com o uso político de datas e vexações passadas que o próprio Guomindang tinha cultivado previamente, confiou no ritual da lembraça. Superando o próprio Jiang Jieshi (Chiang Kaishek), o Grande Timoneiro activou uma espiral de substituição de inimigos que amplificava e prolongava o medo, o ódio e o venenoso rancor dos “Cem Anos de Humilhações”. Não se podia esquecer.
Tal como afirma Cohen (2003: 131143), o estabelecimento da RPCh, antes de ser um momento de ruptura e revolução radical, inaugurava um período de revoluções em diferentes áreas, ao tempo que mantinha “continuidades significativas, ressonâncias e pontos de corres-pondência com aspectos da vida chinesa prévios a 1949”. O povo chinês devia conservar essa febre moral revolucionária – principalmente no meio de grandes dificuldades – para perseguir uma vitória que ressarcisse à nação e a situasse no eixo central que um dia tinha ocupado.
A reescrita do passado levada a cabo pela historiografia do PCCh é considerada – valendo-nos da afirmação de Harrison (cfr. Wang, 2008: 784) – “como a maior tentativa massiva de reeducação ideológica na história da humanidade”. Gries (ibid.: 788) completa este pensamento acrescentando que é certamente inquestionável que “na China o passado vive no presente como em nenhum outro país”. Neste período, escrever sobre história foi reescrever os “textos sagrados” como denomina Weigelin-Schwiedrzik (2006), editados e publicados sob o rótulo de Obras seletas do pensamento de Mao e emolduradas pelo Comité Central do PCCh através da resolução “On Some Historical Questions”, emitida pouco depois do VII Congresso do Partido celebrado em 1945.
Deste modo as diferenças que estabelece Assmann (2003: 154-177) entre “cultural memory” – textos sagrados que narram as origens liminares da sociedade e do sistema político que impera – e “communicative memory” – memória dos últimos cem anos e que costuma interligar três gerações numa mesma sociedade – esbatem-se e cria-se uma master narrative promulgada numa sociedade que é compelida a sonhar com a nação que já foi. Mas este era um passado selecionado e crivado pelos líderes e o Partido. No conjunto, essa fantasia foi o sonho de uma sociedade afastada da realidade interna e externa, e portanto de si mesma.
Se tomarmos a distinção que Kluge (cfr. Schmidt-Glintzer, 2005: 141) faz da percepção da realidade que alimenta a memória – segundo a qual temos, de uma parte, a experiência do mais próximo ou imediato passado e, de outra, os verdadeiros acontecimentos históricos mais recentes – vemos que na época maoísta ambos foram adulterados através do controlo total e da propaganda ubíqua. O que Mao alcançou, construindo seletivamente o passado, “escolhendo os traumas” e “escolhendo as glórias” foi amoldar o seu presente e, assim, condicionar irreparavelmente o futuro. Como descreve Billeter (2000: 17), “a China enquanto sonhava com o seu passado, acabou convertendo-se num país sem memória”.
Contudo, se tivéssemos de escolher um traço que caracterizasse, numa única palavra, o tratamento da memória e da história durante os 27 anos de reinado maoísta, o mais acertado seria o da ambiguidade. Sirvam estas palavras de Sayles (cfr. Landsberger, 1994: xviii) para delinear um esboço rápido desta época:
“The Revolution aims to set us free but must imprison many. The Revolution exists to spread power among the people, but first must centralize it. The Revolution must protect true freedom of speech with censorship. The Revolution strives to create a New Man but is guided by the Old ones. Within the Revolution, the individual must surrender himself to the will of the Masses, though that will is interpreted by a handfull of individuals. The Revolution promises change, but first must create order.”
A revolução queria derrotar o inimigo imperialista, mas o regime maoísta decidiu ele próprio – segundo observa Leys (2006: 136) – “de um modo provocatório, reivindicar-se explicitamente como uma tirania antiga, proclamando-se herdeiro político do primeiro unificador imperial”: o Imperador Amarelo Qin Shi Huan (259-210 a.C.). A revolução criticou os clássicos e lançou uma campanha de denúncia de Confúcio, mas - conforme Sierra de la Calle (2001) - o que se pretendia era substituir o espírito deste pensador e imitar os seus 25 séculos de permanência entre o povo chinês, apagando tudo quanto tinha escrito e redigindo no seu lugar uma outra doutrina (as vezes até curiosamente semelhante) que seduzisse as gerações mais novas. O resultado: a memória do povo ficou congelada e anestesiada. Apoderando-se de “apenas uns centímetros cúbicos dentro da cabeça” (Gleckner, 1956: 96), erigiu-se uma sociedade submissa às expensas de uma lavagem cerebral e de uma repetição constante de palavras de ordem publicitadas pelo Partido. Mensagens essas que minimizavam o raciocínio e propagavam um sentimento de conformidade política; mensagens salmodiadas até a saciedade através das quais se ocultava e eliminava a verdade objetiva. Seguindo este libreto, Mao e o PCCh governaram valendo-se da mais pura coerção e com isso conseguiram reforçar a sua legitimidade transformando as mentes, processo este que Schell descreveu de um modo brilhante no 11 de Julho de 2007 durante a conferência “There You Go Again: Orwell Comes to America: Propaganda Then and Now: What Orwell Did and Didn't Know” (disponível em http://www.nypl.org/live/multimedia/orwell).
Na opinião deste especialista, durante o maoísmo, o indivíduo não era compelido apenas a perseguir o desvio ideológico do inimigo e a denunciá-lo. Também conquistou o poder para fazer que esse mesmo indivíduo identificasse em si próprio esse erro de conduta, verificando as suas ações (portanto ativando a sua memória mais recente) e esforçando-se por encontrar em quaisquer delas o delito. Uma vez (auto)localizada a falta, devia (auto)corrigi-la por meio da (auto)crítica. Efetivamente: era preciso não esquecer. Note-se que este poder de domínio da memória e o apelo a não esquecer controlava tanto as faculdades neurológicas de reter e recordar o passado como a capacidade de fixar e decorar condutas positivas para futuras ações. A propaganda ficava encarregue de teledirigir quotidianamente a atividade cerebral da sociedade com lemas como “renmin chunzhong you wuxian de chuangzaoli” (o povo tem poderes criativos ilimitados) impresso em bilhetes de autocarro da época; “tigao jingti baowei zuguo” (aumente a vigilância para defender a Mãe Pátria) nos envelopes; “niannian bu wang jieji douzheng” (nunca esquecer a luta de classes) gravado num espelho de mesa; “da li zhiyuan nongye” (apoie agricultura em grande escala) nos pacotes de tabaco. Todos estes exemplos aparecem recolhidos em Gao (2008: 2).
Como ser herói e sobreviver na memória da China
Lu Xun, considerado o maior escritor da China moderna, observou – segundo resume Leys (2005: 247) – “que sempre que um génio original se manifesta neste mundo, as pessoas esforçam-se logo por se desembaraçar dele”. Podem optar pelo método da supressão o que faz com que o personagem, “isolada e rodeada por um muro de silêncio e enterrada viva” acabe por ser apagada da memória. Se ainda assim esta manobra não surtir o efeito desejado, continua o autor, “passase ao mais radical e mais temível método: a glorificação. Posto isto, a vítima é içada sobre um pedestal, incensada e endeusada”. Contudo, poderíamos acrescentar outros meios que permitem a obliteração de génios originais, consequência da própria ambiguidade e contrassentido que parecem presidir algumas etapas históricas na China – especialmente durante o período maoísta – das quais já Lu Xun não seria testemunha.
Assim, um terceiro meio seria semelhante ao processo de glorificação-supressão-reabilitação, vivido na pele de líderes como Deng Xiaoping ou pensadores como Confúcio. Outros mitos e heróis do passado ressuscitaram de forma contraditória, como o general wokou Zheng Chenggong (1624-1662) convertido em metonímia da luta maoísta contra o imperialismo apesar da sua biografia estar carregada de argumentos que o situavam nas antípodas do panteón comunista. Não importava que tivesse defendido a causa de um imperador de épocas feudais, nem que tivesse sido educado segundo os preceitos confucionistas, nem que o seu pai fosse um mercador enriquecido pela piratearia ou que a sua mãe fosse japonesa. Estes detalhes foram ignorados na hagiografia popular da RPCh. Com a Revolução Cultural até os heróis nacionais do passado tiveram que procurar refúgio (acusações contra Shi Kefa por atacar aos camponeses; críticas ao Hai Rui por trair o malvado imperador Jiajing (1521-1567). Zheng Chenggong ao menos sobreviveu e a sua imagem espera intacta ainda hoje que os mitos históricos sejam novamente invocados em nome da defesa nacional. Conseguirá fazer que o auspício de Chang Huan-yen (1620-1664) “hope that for a thousand autumns men will tell of this” permaneça em vigor?
Se fizermos um percurso sobre a avaliação que do próprio Mao se fez, observaremos que ele, em vida, experimentou etapas de glorificação – “supressão” – “reabilitação”. Utilizamos as aspas na fase da supressão porque, embora ele se tivesse afastado do poder após o fracasso da campanha do Grande Salto em Frente durante 1958-1960, fê-lo como estratégia para preparar o seu retorno em força, o que aconteceu em 1966 com a sua planificada Revolução Cultural.
Após a sua morte, o processo foi semelhante, sendo que começou também com a glorificação e seguida de uma supressão, neste caso, imposta pelo juízo histórico, embora não fosse total, firme nem radical. O PCCh preferiu antes optar pela ambiguidade e resolveu o dilema de valorizar o papel de Mao na história estipulando a fórmula algébrica do 30-70. Isto é: a sua contribuição para a revolução foi 70% positiva e 30% errada. A reabilitação, como veremos, chegou só com a “Mao craze” dos anos 90.
A memória do maoísmo sem Mao
A morte de Mao a 9 de Setembro de 1976 – preconizada, não sem ironia, com dois dos tradicionais sinais anunciadores do fim de uma dinastia: um tremor de terra e um eclipse de sol – obrigou o seu sucessor Hua Guofeng a levar a cabo uma manobra delicada: ao mesmo tempo que desmantelava e neutralizava a herança e a memória mao-ísta, teve de se reivindicar como fiel discípulo de Mao, numa acrobacia intelectual na qual também acabou por embarcar a sociedade em pleno. A China – que tinha sido ferreamente telecomandada – continuou a ser dirigida para ultrapassar ou encaixar a perda do seu líder à força de resoluções oficiais. Num país onde mudança e tradição sempre foram forças paralelas, não se podia apagar os registos do bloco de cera socrático, ainda menos num grupo que incorporava a representação mental de um evento traumático na sua identidade. Seguindo a leitura de Volkan (cfr. Wang, 2008: 785), uma geração que passa por esse género de vivências desencadeia irremediavelmente “a transmissão inter-geracional de dita inimizade histórica”. Como olhar para o passado após Mao? Que manter na memória mais vivamente e como armazená-lo?
Temos também de sublinhar a especial dimensão do trauma com o qual a sociedade chinesa ficou marcada. Segundo Eyerman (cfr. Weigelin-Schwiedrzik, 2009: 99): “As opposed to psychological or physical trauma, which involves a wound and the experience of great emotional anguish by an individual, cultural trauma refers to a dramatic loss of identity and meaning, a tear in the social fabric, affecting a group of people that has achieved some degree of cohesion.”
Tendo em conta que a experiência traumática da China se encontra sob a categoria de trauma coletivo e cultural, resultava crucial a abertura de um debate público que cicatrizasse as feridas dos sobreviventes e que promovesse uma narrativa que destraumatizasse o evento para as gerações posteriores. Definitivamente, tal como Fareed Zakaria sentenciou em 2005 na revista Newsweek: “para enfrentar com confiança o futuro, a China deve ser capaz de enfrentar o seu passado com sinceridade”. Todavia, a partir de 1976 a memória na China parece ancorada na obsessão da Revolução Cultural que ainda está por resolver. Embora a nação tivesse experimentado outra série de calamidades como a Guerra da Coreia (1954-1959) ou o Grande Salto em Frente, os anos entre 1966 e 1976 monopolizaram as reminiscências, isso sim: desde que se seguisse o princípio condutor definido oficialmente. Segundo este guião, espalhava-se a ideia da vitimização universal e acusava-se abertamente ao Gangue dos Quatro – grupo formado por Jiang Qing (esposa de Mao), Zhang Chunqiao, Wang Hongwen e Yao Wenyuan, membros do PCCh – como autor e responsável absoluto por deturpar e corromper o pensamento de Mao bem como por propagar o tão temido caos (luan) durante a Revolução Cultural. Deste modo, promovia-se uma resolução totalmente neutral e cirúrgica para enfrentar o passado. A debilidade do PCCh e de Hua Guofeng não permitia, possivelmente, uma solução melhor.
Talvez esta debilidade – que não permitiu ao poder nem criar uma amnésia nem impor a sua versão memory frame – explique o motivo pelo qual o próprio partido tenha mudado de estratégia de análise em várias ocasiões e tenha abandonado o argumento inicial, anteriormente explicado, para assumir a “total negação da Revolução Cultural” e até mesmo a culpabilização universal. Mas também pode ser que a profundidade da marca que estes eventos deixaram na memória tivesse forçado esta viragem na interpretação entre as gerações submetidas a uma traumatização secundária. Pode ser que igualmente venha exigir nas gerações futuras uma constante reinterpretação, mesmo que o evento em questão pareça ter encontrado o seu espaço na continuidade da história, na memória das pessoas e na sua identidade.
 Figure 1. Wang Jingsong, Taking a Picture in Front of the Gate of
Figure 1. Wang Jingsong, Taking a Picture in Front of the Gate of
Heavenly Peace. Óleo e tela, 125 x 185 cm, 1992.
(© http://dev.artspeakchina.org)
O que é um facto é que quanto mais se desobedecia à ordem dos antigos atenienses no século V a.C. comandavam para “não recordar sofrimentos” (mé mnesikakeìn) – Passerini (2003, 243) – e, consequentemente, quanto mais a sociedade mostrava o seu desejo de vingança contra o Gangue dos Quatro, mais se debilitava a imagem de Hua Guofeng e mais ganhava a de Deng Xiaoping. A enfâse que estes dois líderes colocaram no desenvolvimento económico com a campanha das Quatro Modernizações serviu, com o tempo, de chamariz social para ir regulando a intensidade das recordações. A China entra na década dos 90 surpreendentemente virada – aos olhos dos ocidentais – para a reabilitação da figura de Mao e à beira de uma nova adoração icónica sem limites. Chegava a “Mao craze”, com o ressurgir da figura do Grande Timoneiro embebido paradoxalmente numa aura consumista, de todo apelativa, mas que pouco tinha a ver com o contexto histórico. Começava assim uma fase de simulação nos termos que Baudrillard descreve: as referências ao passado esbatem-se e o ícone ressuscita num sistema artificial de signos que não se constroem nem por imitação, nem duplicação nem sequer com o intuito de parodiar (Baudrillard, 1994: 2). A memória de Mao já não instigava o fervor revolucionário nem os valores socialistas de décadas anteriores: o significante separou-se do seu significado. Neste ponto, gostaríamos de invocar a opinião de Schell (1995: 282):
“The truth was that Mao was being reborn not because ‘the masses’ wanted another episode of permanent revolution, but because they were beginning to treat Mao as part of a pop-culture fad with little more ideological seriousness than crazes for hulha-hoops, Silly Putty, or bubble-gum cards.”
 Carcaças de telemóvel inspiradas nos pósteres de
Carcaças de telemóvel inspiradas nos pósteres de
Propaganda Maoísta. (http://www.zazzle.com)
O resultado desta viragem materializou-se em obras como a do pintor Wang Jingsong titulada Taking a Picture in Front of the Gate of Heavenly Peace, na qual desmonta e desconstrói símbolos de grande peso histórico para a China como é a Praça de Tiananmen, a porta da Cidade Proibida e o sempiterno retrato do Presidente Mao a olhar como um espectro vigilante o destino da nação. Uma nação que já não está composta pelo triunvirato de forças do passado (camponeses-soldados-trabalhadores), mas sim por cidadãos cosmopolitas a posar perante o quadro que simplesmente se adivinha no fundo privado do poder de observação. Eis o toque final desta encenação: o detalhe das telhas douradas da Gate of Heavenly Pace representadas como filtros de cigarros importados, sinal quiçá da aceitação dos costumes capitalistas.
Qual o futuro de tanta memória?
O processo de sarar um trauma não passa pela busca da verdade histórica no sentido menos complexo – se é que existe – desta expressão. É antes um percurso de construção no qual as pessoas tentam seguir um caminho que lhes permita lidar com a dor e a memória, caminho este preferivelmente partilhado pela maioria da sociedade.
Este tipo de verdade aquiesce, portanto, com a necessidade de um presente no qual se tracem planos para o futuro. Se essa verdade e a forma como se lida com a memória não garantem a possibilidade de um presente, não poderá ser válida e será preciso reformulá-la. É por isto que, dentro da memória comunicativa, os traumas não superados continuam a apresentar novas respostas a velhas questões.
Hoje em dia assistimos a um modo de tratamento da memória sobre os Dez Anos de Caos no qual é evidente o protagonismo da geração dos Guardas Vermelhos. Este protagonismo articula o desejo de falar e contar a sua história em primeira pessoa. Mas estas presenças não escondem as grandes ausências: os conhecidos velhos cargos ou lao ganbu permanecem em silêncio – segundo conta Weigelin-Schwiedrzik (2009) – não importa se foram vítimas ou se foram perpetradores. Esse silêncio ou desejo de esquecer gera igualmente uma forma de memória traumática nascida como engrama neuromuscular e deve portanto ser considerada como signo de traumatização.
Comoções causadas por desastres naturais causam igualmente um efeito devastador na sociedade, mas na maior parte dos casos são abordadas como um terrível golpe do destino e por isto com respostas que só os deuses ou a religião poderiam explicar. Desastres perpetrados por uma mão humana deixam ao descoberto a nossa própria imperfeição e atacam muitas vezes ideais expondo frustrações, remorsos e procura de culpados. É aqui onde reside a dificuldade de fechar feridas e o motivo pelo qual este é um processo lancinante e duradouro.
A China, hoje em dia, continua a lembrar, de diferentes formas e manifestando-se ou ocultando-se de diversos modos. Todavia, a História continua a ser o único meio para o efeito (o passado não habita as pedras e sim os indivíduos), embora o processo de negociar o guilt management – defendido por Thomas Elsaesser como linha de partida para estabelecer responsabilidades e caminhar para a reconciliação – ainda está em aberto. As memórias estão muito fragmentadas e isso também coloca em risco o modo como as novas gerações aprendem, em segunda mão, a lembrar o passado. É urgente o esforço para reunir, organizar e avaliar materiais, tal como sugere Olick et al. (2011). Assim poderá avançar-se na construção dos “social memory studies” que completem os mais históricos “collective memory studies” e que permaneçam abertos a novos fenómenos da memória e futuras manifestações do recordar. Utilizando palavras de Lenine sobre as possibilidades dialécticas que se podem encontrar do património histórico, Chen (1994) aponta para a necessidade de incluir na análise de qualquer cultura – seja oriental ou ocidental – tanto a versão positiva como a negativa e evitar promover um discurso dominante nos termos foucaultianos. Só deste modo o resultado será “dialéctico e portanto convincente”. Olhar para “o que foi” proporciona uma economia moral referencial para avaliar, perceber e aceitar o presente. As memórias podem forjar sentimentos de solidariedade ou de injustiça ao mesmo tempo que contribuem para a mobilização, e tudo porque “desnaturalizam ou conferem historicidade à ordem social em vigor, solidificando a visão moral de que as coisas foram, devem ser e podem ser diferentes” (Lee e Yang, 2007: 7). Mas é necessário evitar hegemonias que desvirtuem o equilíbrio e só mostrem uma face da moeda.
A China terá pela frente o desafio de estudar o mecanismo de toda a maquinaria da memória: que tipo de narrativas é que continua a produzir, quem é quem as produz, com que objectivos e através de que meios... Não podemos perder de vista a evidência de que neste país a política adquire formas culturais do mesmo modo que produtos culturais incorporam significados e consequências políticas. Ali continua a imperar o poder da memória e a memória do poder. Mas esse poder e essa memória devem superar interesses partidários e tornar-se em forças integradoras e, deste modo, inaugurar tempos nos quais passe a ser certa esta afirmação recolhida por Olick et al. (2001, 37):
“Doing justice to the reality of history is not a matter of noting the way in which the past provides background to the present; it is a matter of treating what people do in the present as a struggle to create a future out of the past, of seeing that the past is not just the womb of the present but the only raw material out of which the present can be constructed.”
As vezes, como afirmava Valéry, acontece que o futuro é a causa do passado (cfr. Barthes, 2009: 215).
Conclusões
Recordar é um processo constante e obstinado e até curiosamente inconsciente, tal como o respirar. Fisicamente cada parte do nosso corpo é produto e armazena códigos herdados e hereditários. Neurologicamente, criamos ou sobre-escrevemos inevitavelmente outras memórias até quando queremos esquecer ou cancelar o passado. Nem sequer quando estamos a procura de algo que tenhamos esquecido deixamos de lembrar (mesmo que seja apenas parcialmente). É a autopoiesis do recordar...
 Escultura situada num dos
Escultura situada num dos
acessos do popular recinto
artístico “798” em Pequim.
(©BPH)
Na atualidade o viajante curioso que percorra a China e faça uma revista dos monumentos das principais cidades, reparará que só há um memorial de vítimas por conflito armado nos 9,6 milhões de quilómetros quadrados do território. Está situado na província de Sichuam (no Sudoeste), cuja capital Chengdu foi curiosamente sede do governo nacionalista. De facto, trinta e seis anos após o fim oficial da Revolução Cultural, não há monumento público específico onde render homenagem às vitimas desses dez anos, não há um dia para comemoração.
O que ainda proliferam são discursos fragmentados que mostram que as pessoas não estão preparadas para ouvir os testemunhos que não sejam os próprios. Também continua a existir muito silêncio e muitas ausências que não são esquecimento. Parece que impera um lapsus memoriae de inibição à escala social causado pela ambiguidade na avaliação do bem e do mal, pela impossibilidade de definir quem é vítima e quem é perpetrador, e pelo impedimento de poder recordar sem tabus de um modo integrador e não agressivo com o resto da sociedade.
A memória é um processo baseado numa auto-reflexão e numa introspecção pessoal. Abrir o caminho da empatia poderia ser um modo de fomentar a reconciliação das múltiplas versões que coexistem hoje em dia de alguns acontecimentos, como por exemplo da Revolução Cultural ou do Grande Salto em frente. Reconstruindo com claridade – através de um debate que será doloroso e pungente – os valores morais do bem e do mal, da culpa e da responsabilidade, da vítima e do perpetrador, pode ser que o peso da memória passe a ser suportável. Só este guilt management ajudará a descarregar o fardo que oprime – mesmo que seja de um modo inconsciente – ao indivíduo. Fomentar estas dinâmicas inclusivas da memória abriria, assim, um novo modo de lembrar e dialogar para construir um desejado mas sempre complexo espaço da reconciliação.
Bibliografia
- Assmann, J. (2003), “Cultural Memory: Script, Recollection, and Political Identity in Early Civilizations”. Historiography East and West. 1, pp.154-177.
- Barthes, Roland (2009), Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.
- Billeter, Jean-François (2000), “Chine trois fois muette: de la place de la Chine dans le monde d'aujourd'hui”. Genève: Institut universitaire d'études du développement, Service des publications.
- Brassard, J.P., & Gagnon, A.-G. (2010), Les intellectuels, l'État et la résurgence du nationalisme en Chine populaire (19891999). Montréal, Université du Québec à Montréal. http://www.archipel.uqam.ca/2859/.
- Chen Xiaomei (1994), Occidentalism: a theory of counter-discourse in post-Mao China. New York: Oxford University Press.
- Cohen, Paul. A. (2003), China unbound: evolving perspectives on the Chinese past. London [u.a.]: Routledge Curzon.
- Croizer, Ralph C. (1977), Koxinga and Chinese nationalism: history, myth, and the hero. Harvard East Asian monographs, 67. Cambridge: East Asian Research Center, Harvard University: distributed by Harvard University Press.
- Gao M. C. F. (2008), The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. London: Pluto Press.
- Gao M. C. F. (2002). “Debating the Cultural Revolution: Do We Only Know What We Believe?”. Critical Asian Studies, 34, pp. 419-434.
- Gil, Isabel Capeloa (2011), Literacia visual: estudos sobre a inquietude das imagens. Lisboa: Edições 70.
- Gleckner, Robert F. (1956), "1984 or 1948?" College English, 18 (2), pp. 95-99.
- Hodgkin, K., & Radstone, S. (2003), Contested pasts: the politics of memory. London: Routledge.
- Landsberger, Stefan R. (1994), Visualizing the future: Chinese propaganda posters from the "Four Modernizations" era, 1978-1988. Tese não publicada.
- Lee, C. K., & Yang G. (2007), Re-envisioning the Chinese revolution: the politics and poetics of collective memories in reform China. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Leys, Simon (2005), Ensaios sobre a China. Lisboa: Edições Cotovia.
- Lin X. (1997), “Those Parodic Images: A Glimpse of Contemporary Chinese Art”. Leonardo, 30, pp. 113-122.
- Liu Xiaobo, E. Perry Link, Tienchi Martin-Liao, and Xia Liu (2012), No enemies, no hatred: selected essays and poems. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
- Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (2011), The collective memory reader. New York: Oxford University Press.
- Passerini, Laura (2003), “Memories between silence and oblivion”, in: Hodgkin, K., & Radstone, S., Contested pasts: the politics of memory. London: Routledge, pp. 238-254.
- Schell, Orville (1995), Mandate of heaven: the legacy of Tiananmen Square and the next generation of China's leaders. New York: Simon & Schuster.
- Schmidt-Glintzer, H., Mittag, A., & Rüsen, J. (2005), Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective. Leiden: Brill.
- Schmidt-Glintzer (2005), “Why has the question of truth remained an open question throughout Chinese History?”, in: H. Schmidt-Glintzer, Mittag, A., & Rüsen, J. (2005), Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective, Leiden: Brill, pp. 115, 132.
- Sierra De La Calle, Blas And Museo Oriental De Valladolid (2001), Imágenes de la Revolución Cultural China. Valladolid: Caja España.
- Wang Zeng. H. (2008), “National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic Education Campaign in China”, International Studies Quarterly. 52, 783-806.
- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2009), “Coping with the Cultural Revolution: Contesting Interpretations”, in: zeitgeschichte-on line, Juni 2009, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/portals_rainbow/documents/pdf/revolution.pdf
- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2006), “In Search of a Master Narrative for 20th-Century Chinese History”. The China Quarterly. 188.
- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2005), “History and truth in Chinese Marxist Historiography”, in: Schmidt-Glintzer, H., Mittag, A., & Rüsen, J., Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective. Leiden: Brill, pp. 421-464.
- Details
- Revista
- Hits: 46223
Renato Epifânio
Presidente do MIL – Movimento Internacional Lusófono
Em 2015 assinalam-se os 100 anos do falecimento de Sampaio Bruno, e, naturalmente, a NOVA ÁGUIA, ao contrário da generalidade das revistas culturais, que insistem em ignorar o que mais importa, dá o devido destaque a essa que foi, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da Filosofia Lusófona, coligindo cerca de uma dezena de ensaios, que abordam as mais relevantes facetas da sua vida e obra.
No ano em que igualmente se assinala o centenário d’Orpheu, que teve o devido destaque no número anterior, publicamos ainda, neste número, mais de meia dúzia de textos – começando pela Conferência de Eduardo Lourenço proferida no Encerramento do Congresso 100 – Orpheu, que decorreu no primeiro semestre deste ano, em Portugal e no Brasil.
De forma mais breve, mas nem por isso menos significativa, evocamos igualmente neste número mais de uma dezena de figuras relevantes da cultura lusófona – dos clássicos Camões e Eça de Queirós até Alfredo Brochado, Eudoro de Sousa, Herberto Helder (poeta português falecido, como se sabe, este ano), José Enes, José Pedro Machado, José da Silva Maia Ferreira (poeta angolano), Miguel Torga (por ocasião dos vinte anos do seu falecimento) e Rui Knopfli (poeta moçambicano).
Em “Outros Voos”, começamos com a colaboração sempre presente e honrosa de Adriano Moreira e terminamos com um interessante apontamento sobre “palíndromos”, do linguista brasileiro Ziro Roriz. Para além das “Rubricas” habituais, em que, pela mão de João Bigotte Chorão, Miguel Torga é de novo evocado, temos a secção, igualmente já clássica, “Bibliáguio”, onde começamos por destacar três obras lançadas, por diferentes editoras, no primeiro semestre deste ano.
 Capa da NOVA ÁGUIA n.º 16.
Capa da NOVA ÁGUIA n.º 16.
Falamos de O Estranhíssimo Colosso. Uma biografia de Agostinho da Silva, de António Cândido Franco, uma colossal obra, não apenas pelo seu número de páginas (mais de setecentas), que ilumina algumas facetas da vida de Agostinho da Silva até agora menos conhecidas ou desconhecidas de todo; de O último Europeu, de Miguel Real, um romance que é, sobretudo, uma reflexão ingente sobre o presente e o futuro da Europa; e, finalmente, de Meditação sobre a Saudade, do filósofo galego Luís Garcia Soto, que republicou agora em Portugal, na Colecção NOVA ÁGUIA, uma obra vinda à luz em 2012 e galardoada com o prestigiado Prémio Carvalho Calero.
Finalmente, em “Extravoo” publicamos uma extensa entrevista a Eduardo Lourenço, conduzida por Luís de Barreiro Tavares, e um ensaio inédito de José Enes; e, em “Memoriáguio”, registamos alguns eventos decorridos no primeiro semestre deste ano – desde logo, as Homenagens realizadas a Gama Caeiro, por António Braz Teixeira, e a Banha de Andrade, aqui igualmente evocado no número anterior por Pinharanda Gomes. Em suma, mais um grande número da NOVA ÁGUIA, a anteceder um outro decerto não menor, onde começaremos por reflectir sobre “A importância das Diásporas para a Lusofonia”.
Post Scriptum:
Entretanto faleceram dois vultos maiores da cultura cabo-verdiana: Corsino Fortes e Arnaldo França.
Ainda que de forma breve, não deixamos aqui de os evocar.
- Details
- Revista
- Hits: 68818
Renato Epifânio1
Presidente do MIL – Movimento Internacional Lusófono
I - Agostinho da Silva: breve roteiro bio-bibliográfico
Nascido no Porto, a 13 de Fevereiro de 1906, vai logo, no ano seguinte, viver para Barca de Alva (Trás-osMontes), onde passa toda a infância2. Ao Porto regressa para realizar o Liceu, findo o qual ingressa, em 1924, na Faculdade de Letras3 – primeiro em Filologia Românica, depois, por desentendimentos com Hernâni Cidade, em Filologia Clássica4. Durante a Licenciatura, colabora com a Acção Académica, publicação monárquica portuense, e com A Águia, célebre revista da “Renascença Portuguesa”, onde, entre outros, se salientaram Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra.
 Agostinho da Silva.
Agostinho da Silva.
Logo após a Licenciatura, concluída em 1928 com a nota de 20 valores, obtém o Doutoramento, igualmente com o “maior Louvor”, com uma dissertação intitulada Sentido histórico das civilizações clássicas – sobre esta temática, publica ainda, nos anos imediatamente seguintes, as obras Breve Ensaio sobre Pérsio e A Religião Grega5. Entretanto, inicia uma prolongada colaboração com a revista Seara Nova, onde se salientaram, entre outros, António Sérgio, Raul Proença e Jaime Cortesão, com quem, aliás, Agostinho da Silva privou, aquando da sua estadia entre 1931 e 1933, enquanto bolseiro, em Paris (onde frequentou a Sorbonne e o Collège de France), que aí se encontravam enquanto exilados políticos6.
Regressado a Portugal em 1933, vai para Aveiro onde lecciona no Liceu José Estevão7 – por, contudo, se ter recusado a assinar uma declaração de não pertença a sociedades secretas8, é demitido do ensino público, tendo então passado a leccionar no ensino particular. Entre 1935 e 1936, volta a sair de Portugal. Desta vez, Madrid foi o destino – aí esteve como bolseiro do Ministério das Relações Exteriores, por convite de Joaquim de Carvalho, cerca de um ano, tempo durante o qual se debruçou, em particular, sobre o misticismo. Em 1937, regressa novamente ao nosso país – nesse mesmo ano, inicia, na Seara Nova, a sua série de Biografias9.
Em 1942, publica o opúsculo O Cristianismo10, que causou uma grande polémica, tendo-o inclusivamente levado à prisão. Tendo-se tornado insustentável a sua permanência em Portugal, parte, em 1944, para o Brasil – desse ano e do seguinte datam as obras Parábola da Mulher de Loth, Conversação com Diotima e Sete Cartas a um Jovem Filósofo11. Aí inicia uma série de actividades – não só, aliás, no Brasil, como ainda no Uruguai e na Argentina. Resultado desse seu activismo foi nada menos do que a criação de quatro Universidades – as Universidades Federais de Paraíba, Santa Catarina, Brasília e Goiás –, bem como de diversos Cursos e Centros de Estudos – nomeadamente, imagine-se, o Centro de Estudos luso-brasileiros na Universidade de Sófia, em 1959, data de uma das suas mais conhecidas obras: Um Fernando Pessoa12.
Naturalizado brasileiro desde 195813, torna-se, em 1961, assessor de política cultural externa de Jânio Quadros, o Presidente da República do Brasil na época, colaborando igualmente com a Direcção Geral do Ensino Superior do Ministério da Educação. Nesse mesmo ano, participa ainda na criação de outros Centros de Estudos: nomeadamente, o de Estudos Goianos na Universidade de Goiás, o de Es.5tudos Ibéricos na Universidade de Mato Grosso, o de Estudos Europeus na Universidade do Paraná e o de Estudos Portugueses na Universidade de Brasília, na qual promoveu igualmente o Centro de Estudos Clássicos. Para divulgar entre nós o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses da Universidade de Brasília, vem a Portugal, chegando inclusivamente a encontrar-se com Franco Nogueira e Adriano Moreira14.
Ainda e sempre de partida, inicia, em 1963, uma digressão pelo Oriente, que o levará, nomeadamente, a Macau, a Timor e ao Japão – neste último país, funda mais um Centro de Estudos. A Portugal regressa, por fim, em 1969, onde virá a assumir diversos cargos: nomeadamente, o de Director do Centro de Estudos Latino-Americanos do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Lisboa e o de Consultor do ICALP (Instituto de Cultura e Língua Portuguesa). Em 1987, é condecorado com a Grã Cruz da Ordem de Espada. Em 1988, é publicada a primeira grande colectânea de textos seus (Dispersos, ICALP). Em 1990, protagonizou as Conversas Vadias, programa televisivo que lhe granjeou uma significativa popularidade. A 3 de Abril de 1994, num Domingo de Páscoa, falece, não sem antes ter dado à luz a obra Ir à Índia sem abandonar Portugal. Prova de que a Verdadeira Viagem se cumpre no interior de nós, de cada um de nós…
II - Portugal: entre o Espaço Europeu e o Espaço Lusófono
O homem não é, ou não é apenas, uma “pura abstracção”, mas um ser concreto, universalmente concreto, um ser que, de resto, será tanto mais universal quanto mais assumir essa sua concretude, a concretude da sua própria circunstância. Dessa circunstância faz axialmente parte a “pátria”, isso que, segundo José Marinho, configura a nossa “fisionomia espiritual”15. Nessa medida, importa pois assumi-la, tanto mais porque, como escreveu igualmente Marinho, foi “para realizar o universal concreto e real [que] surgiram as pátrias”16. Ainda nesta esteira, propõe-nos Marinho a distinção entre “universal” e “geral” – nas suas palavras: “O geral tem âmbito mais restrito e insere-se na prossecução de conceitos, o verdadeiro universal está já numa relação da intuição para a ideia e vincula o singular concreto e indefinível com o uno ou o único transcendente.”17. Daí, enfim, a sua expressa defesa de uma filosofia situadamente portuguesa, não fosse esta “dirigida contra o universalismo abstracto e convencional de escolásticas e enciclopedistas em que têm vivido”18.
Os filósofos são, decerto, os grandes pensadores da universalidade. Mas, por isso mesmo, são ou devem ser também os grandes pensadores do “universal concreto”, do “universal situado” – e não apenas do “universal geral e abstracto”. Se se restringirem apenas a este plano, não serão de resto, verdadeiros pensadores do universal – mas apenas do geral. Só o serão se pensarem, se se pensarem, no “universal concreto”, no “universal situado”. Nessa medida, pensadores portugueses universais serão aqueles que pensarem, se pensarem, no “universal concreto”, no “universal situado”, ou seja, aqueles que pensarem, se pensarem, na situação concreta da nossa História e Cultura… Se tivéssemos que escolher o filósofo português que mais profundamente pensou a situação concreta da nossa História e Cultura, escolheríamos, sem desprimor para todos os outros, Agostinho da Silva. Nessa medida, será com ele que aqui iremos dialogar19, para pensarmos a nossa situação histórico-cultural, em suma, para pensar Portugal e o que se deve entender por Lusofonia: a nosso ver, o nosso grande desígnio estratégico para o Século XXI, por ser aquele que melhor faz jus a toda a nossa História, a toda a nossa Cultura.
A nosso ver, e também na visão de Agostinho da Silva, Portugal só se pode pensar na complementaridade de dois espaços: o espaço europeu e o espaço lusófono. Na complementaridade, não na exclusão mútua, sublinhe-se – ou seja, nem não apenas no espaço europeu nem não apenas no espaço lusófono. Decerto, no espaço europeu, porque Portugal é, desde sempre, um país europeu - o país europeu com as mais antigas fronteiras definidas, mais do que isso, um país que sempre participou activamente na construção da civilização europeia, por extensão, da civilização ocidental, que depois se alargou, sucessivamente, a África, às Américas e mesmo a algumas regiões do Próximo e Extremo-Oriente. Mas não apenas no espaço europeu ao contrário do que, na ressaca da descolonização, se propôs, dado o amontoado de traumas e ressentimentos que então todos nós, directa ou indirectamente, vivemos. Contudo, como defendemos já no nosso livro A via lusófona: um novo horizonte para Portugal:
“…depois de mais de três décadas de costas voltadas, por um amontoado de traumas e ressentimentos, todas essas feridas estão agora, finalmente, a cicatrizar, assim abrindo caminho para a recriação do espaço lusófono enquanto um verdadeiro espaço cultural e civilizacional. Sabemos que ainda há quem agite fantasmas do passado, mas o nosso paradigma é um paradigma novo, de futuro.
Queremos que esse espaço lusófono seja o lugar, a casa comum, onde todos os lusófonos tenham, numa base de liberdade e fraternidade, uma vida digna, sem mais adjectivos. Para mais, no caso dos portugueses, se de novo nos viramos para o Atlântico, não é para de novo virar as costas à Europa – somos europeus e por isso manteremos todos os laços: desde logo com a Galiza (…), depois, com os demais povos ibéricos (sem procurar ressuscitar guerras do passado); por fim, com todos os outros povos europeus, em especial os do Sul (com os quais partilhamos uma história milenar). Mas esses laços não são para nós amarras que impeçam o reencontro com a nossa vocação desde logo mediterrânea e atlântica; por fim, por tudo aquilo que nos liga aos demais países lusófonos, universal. Por isso também defendemos o transnacionalismo lusófono – mais do que um sistema, uma dinâmica, através da qual, sem pôr em causa a soberania dos diversos países da CPLP, estes escolham, livremente, cooperar, de modo crescente, nos mais diversos níveis, para benefício de todos (…). Por esse caminho, quem sabe se, mais à frente, não se criará um bloco cultural, social, económico e político – em suma, civilizacional –, que seja um exemplo para outros povos do mundo, num tempo em que o sistema económico e político que nos tem desgovernado se apresenta cada vez mais exangue.”20
Daí, também o texto que escrevemos no primeiro número da Nova Águia – Revista de Cultura para o século XXI:
“Tese, Antítese e Síntese: por um novo paradigma de Portugal”21
Tese - Paradigma do 24 de Abril:
Tenho da História uma visão hegeliana. Por isso, considero que todos os regimes que caem merecem cair. O Estado Novo não foi excepção. A 24 de Abril de 1974 estava em inteiro colapso. Por isso, caiu. E, com ele, o seu paradigma de Portugal: um Portugal que mantinha um império colonial completamente anacrónico, sem qualquer perspectiva de Futuro.
Antítese - Paradigma do 25 de Abril:
Todas as revoluções são, por natureza, antitéticas. A revolução de 25 de Abril de 1974 também não foi excepção. Por isso, se o Estado Novo defendia um Portugal do Minho até Timor, o paradigma saído da revolução defendeu exactamente o contrário: daí que Portugal tenha virado as costas às suas antigas colónias (com as consequências imediatas que se conhecem e que ainda hoje se fazem sentir), tornando-se apenas em mais um país da Europa.
Síntese - Paradigma do 26 de Abril:
Passado todo este tempo (mais de três décadas), em que os traumas dos ex-colonizadores e dos ex-colonizados já cessaram (senão por inteiro, pelo menos em grande medida), urge um novo paradigma, que faça a devida síntese: recuperando essa visão maior não já de Portugal mas do Espaço Lusófono, em Liberdade e Fraternidade (…).”.
III - Agostinho da Silva: prefigurador da Comunidade Lusófona
Agostinho da Silva é, na nossa perspectiva, o grande teórico desta via, da “via lusófona”. Em muitos textos seus, pelo menos desde os anos 50, Agostinho da Silva antecipou, com efeito, a criação de uma verdadeira comunidade lusófona22. De tal modo que, mesmo depois de falecer, Agostinho da Silva tem sido recordado por isso. Eis, desde logo, o que aconteceu quando se instituiu a CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, conforme registámos na nossa obra Perspectivas sobre Agostinho da Silva:
«No dia 17 de Julho desse ano, criar-se-á finalmente a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, facto que será noticiado, com destaque, na generalidade dos jornais. Na maior parte deles, realça-se igualmente o contributo de Agostinho da Silva para essa criação, por via do seu pensamento e acção. Eis, nomeadamente, o que acontece na edição desse dia do Diário de Notícias – como se pode ler no texto de abertura da notícia: “A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, hoje instituída em Lisboa, foi premonitoriamente enunciada por Agostinho da Silva em 1956 como ‘modelo de vida’ assente ‘em tudo aquilo que (Portugal) heroicamente fez surgir do nada ou na América ou na África ou na Ásia’.”. Depois, aparece a foto de Agostinho, ladeado pelas fotos de Jaime Gama e José Aparecido de Oliveira, com a seguinte legenda: “Pioneiros da CPLP: Agostinho da Silva (enunciação original), Jaime Gama (primeiro texto diplomático único dos Sete na língua comum) e Aparecido de Oliveira (formalização política da proposta)».23
Sabemos que este projecto está ainda aquém, muito aquém, do sonho de Agostinho da Silva. A CPLP não é ainda uma verdadeira comunidade lusófona. Mas nem por isso – já mais de quinze anos após a sua criação – a CPLP deixou de ser um projecto em que Portugal deve apostar enquanto desígnio estratégico. De resto, se há inevitabilidades históricas, a criação da CPLP foi, decerto, a nosso ver, uma delas. Se os países se unem, desde logo, por afinidades linguísticas e culturais, nada de mais natural que os Países de Língua Portuguesa se unissem num projecto comum: para defesa da língua, desde logo, e, gradualmente, para cooperarem aos mais diversos níveis. Se estranheza pode haver quanto à criação da CPLP, decorrerá somente do facto de ter nascido tão tarde.
Como ainda hoje é reconhecido, Agostinho da Silva foi, de facto, desde os anos cinquenta, o grande prefigurador de uma
“comunidade luso-afro-brasileira, com o centro de coordenação em África, de maneira que não fosse uma renovação do imperialismo português, nem um começo do imperialismo brasileiro. O foco central poderia ser em Angola, no planalto, deixando Luanda à borda do mar e subir, tal como se fizera no Brasil em que se deixou a terra baixa e se foi estabelecer a nova capital num planalto com mil metros de altitude. Fizessem a mesma coisa em Angola, e essa nova cidade entraria em correspondência com Brasília e com Lisboa para se começar a formar uma comunidade luso-afro-brasileira”.24
Na sua perspectiva, assim se cumpriria essa Comunidade Lusófona, a futura “Pátria de todos nós”:
“Do rectângulo da Europa passámos para algo totalmente diferente. Agora, Portugal é todo o território de língua portuguesa. Os brasileiros poderão chamarlhe Brasil e os moçambicanos poderão chamar-lhe Moçambique. É uma Pátria estendida a todos os homens, aquilo que Fernando Pessoa julgou ser a sua Pátria: a língua portuguesa. Agora, é essa a Pátria de todos nós.”25
Daí ainda o ter-se referido ao que “no tempo e no espaço, podemos chamar a área de Cultura Portuguesa, a pátria ecuménica da nossa língua”26, daí, enfim, o ter falado de uma “placa linguística de povos de língua portuguesa – semelhante às placas que constituem o planeta e que jogam entre si”27, base da criação de uma “comunidade” que expressamente antecipou:
“Trata-se, actualmente, de poder começar a fabricar uma comunidade dos países de língua portuguesa, política essa que tem uma vertente cultural e uma outra, muito importante, económica”.28
Prefigurando até, com esse horizonte em vista, o “sacrifício de Portugal como Nação”:
“esse Império, que só poderá surgir quando Portugal, sacrificandose como Nação, apenas for um dos elementos de uma comunidade de língua portuguesa”.29
IV - Pensar a Lusofonia no século XXI
No século XXI, para pensarmos a Lusofonia, temos que superar os paradigmas colonialistas e mesmo póscolonialistas. Estes estão ainda reféns de um olhar enviesado por uma série de complexos históricos que há que transcender de vez, de modo a podermos realizar essa visão futurante do que pode ser a Lusofonia.
Transcender não significa escamotear. Indo directo ao assunto, é evidente que a Lusofonia se enraíza numa história que foi em parte colonial e, por isso, violenta. Não há colonialismos não violentos, por muito que possamos e devamos salvaguardar que nem todas as histórias coloniais tiveram o mesmo grau de violência. Eis, de resto, o que se pode aferir não apenas pelas análises históricas, mas comparando a relação que há, nos dias de hoje, entre os diversos povos colonizadores e colonizados. Assim haja honestidade para tanto.
Não será, porém, esse o caminho que iremos aqui seguir. Não pretendemos alicerçar a Lusofonia na relação que existe, nos dias de hoje, entre Portugal e os países que se tornaram independentes há cerca de quarenta anos. Se assim fosse, estaríamos ainda a fazer de Portugal o centro da Lusofonia, estaríamos ainda a pensar à luz dos paradigmas colonialistas e mesmo pós-colonialistas.
O que pretendemos salientar é que, sem excepção, é do interesse de todos os países que se tornaram independentes há cerca de quarenta anos a defesa e a difusão da Lusofonia. Eis, desde logo, o que se prova por nenhum desses países ter renegado a língua portuguesa como língua oficial. Se o fizeram, não foi decerto para agradar a Portugal. Foi, simplesmente, porque esse era o seu legítimo interesse, quer interno – para manter a unidade nacional de cada um dos países –, quer externo – fazendo da língua portuguesa a grande via de inserção na Comunidade Internacional.
Obviamente, cada caso tem as suas especificidades. Pela minha experiência, sou levado a afirmar que o povo que mais facilmente compreende a importância da Lusofonia é o povo timorense; porque ela foi a marca maior de uma autonomia linguística e cultural que potenciou a resistência à ocupação indonésia e a consequente afirmação de uma autonomia política que, como sabemos, só se veio a concretizar mais recentemente, já no século XXI. Mesmo após esse período, tem sido a Lusofonia o grande factor de resistência ao assédio anglo-saxónico, via, sobretudo, Austrália.
Contrapolarmente, o Brasil, pela sua escala, poderia ser o único país a ter a tentação de desprezar a mais-valia estratégica da Lusofonia. Nunca o fez, porém. Pelo contrário – apesar de alguns sinais contraditórios, a aposta na relação privilegiada com os restantes países e regiões de língua portuguesa parece ser cada vez maior. Quanto aos PALOPs: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, essa também parece ser, cada vez mais, a aposta. Simplesmente, reiteramo-lo, porque é do interesse de cada um desses países este caminho de convergência. Por isso, é a Lusofonia um caminho de futuro. Por isso, é a Lusofonia um espaço naturalmente plural e polifónico, que abarca e abraça as especificidades linguísticas e culturais de cada um dos povos desta comunidade desde sempre aberta ao mundo.
- Professor Universitário; Membro do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, da Direcção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, da Sociedade da Língua Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva; investigador na área da “Filosofia em Portugal”, com dezenas de estudos publicados, desenvolveu um projecto de pós-doutoramento sobre o pensamento de Agostinho da Silva, com o apoio da FCT: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, para além de ser responsável pelo Repertório da Bibliografia Filosófica Portuguesa: www.bibliografiafilosofica.webnode.com; Licenciatura e Mestrado em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; doutorou-se, na mesma Faculdade, no dia 14 de Dezembro de 2004, com a dissertação Fundamentos e Firmamentos do pensamento português contemporâneo: uma perspectiva a partir da visão de José Marinho (no prelo); autor das obras Visões de Agostinho da Silva (2006), Repertório da Bibliografia Filosófica Portuguesa (2007), Perspectivas sobre Agostinho da Silva (2008), Via aberta: de Marinho a Pessoa, da Finisterra ao Oriente (2009), A Via Lusófona: um novo horizonte para Portugal (2010), Convergência Lusófona (2012/2014) e A Via Lusófona II (2015). Integra a Direcção da NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o Século XXI e é o Director da Colecção de livros com o mesmo nome (Zéfiro). É o Presidente do MIL - Movimento Internacional Lusófono.
- E aonde ficará para sempre ligado – nas palavras do próprio Agostinho da Silva: “Fiz o curso no Porto, andei por toda a parte quanto é mundo, mas a minha terra continua a ser Barca de Alva.” [Vida Conversável, Lisboa, Assírio & Alvim, 1994, p. 16].
- Na primeira Faculdade de Letras do Porto, que existiu durante os anos de 1919 e 1931.
- Nas palavras do próprio Agostinho da Silva, contudo, a real Licenciatura que ele obteve na Faculdade Letras do Porto foi uma Licenciatura em “Liberdade” – e, posteriormente, um Doutoramento em “Raiva” [cf. Dispersos, Lisboa, ICALP, 1989 (2ª, revista e aumentada), p. 52] –, dado que, ainda nas suas palavras, essa Faculdade era, sobretudo, “uma escola de liberdade” [cf. ibid., p.147], reflexo da “largueza de espírito de Leonardo Coimbra” [cf. ibid., p. 174] – por isso mesmo, porém, “o governo não gostava dela e fechou-a” [cf. ibid., p. 31].
- Estas três obras foram recentemente republicadas na colectânea Estudos sobre Cultura Clássica, Lisboa, Âncora, 2002.
- Grupo de pessoas às quais, de resto, Agostinho da Silva se manterá ligado, em particular a António Sérgio, a ponto de o ter reconhecido como “mestre” – isto apesar destas suas considerações: “…Sérgio não ousou afrontar os problemas filosóficos mais profundos, as questões de dúvida. Preferia manter-se na certeza.”; “Mesmo como pedagogo, a sua atitude tendia a ser de grande arrogância intelectual.” [cf. Dispersos, ed. cit., p. 55]. Como, contudo, o próprio Agostinho reconheceu, o seu discipulato relativamente a Sérgio cumpriu-se, sobretudo, por oposição: “…mas ele [Sérgio] não me ensinou o racionalismo: ensinou-me antes o irracionalismo, por reacção minha.” [cf. Francisco Palma Dias, “Agostinho da Silva, Bandeirante do Espírito”, in AA.VV., Agostinho [da Silva], São Paulo, Green Forest do Brasil Editora, 2000, p. 155].
- A experiência enquanto professor do ensino secundário não começou, contudo, aí, já que, em 1929, tinha sido professor no Liceu Alexandre Herculano, em 1930, no Liceu Gil Vicente, em 1931, no Liceu Pedro Nunes, e em 1932, de novo no Liceu Alexandre Herculano.
- Nas suas próprias palavras, tão sucintas quanto esclarecedoras: “Pensei bem, e embora não pertencendo a associações secretas e também precisasse de comer, decidi não assinar o papel.” [A Última Conversa, Lisboa, Notícias, 1995, p. 35].
- A maior parte delas republicadas em Biografias, Lisboa, Âncora, 2003, 3 vols.
- Republicado em Textos e Ensaios Filosóficos, Lisboa, Âncora, 1999, vol. I, pp. 67-80.
- Igualmente republicadas em Textos e Ensaios Filosóficos, vol. I.
- Republicada em Ensaios sobre Cultura e Literatura Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Âncora, 2000, vol. I, pp. 89-117.
- Facto por si assumido com a maior naturalidade – daí, a título de exemplo, estas suas palavras: “Porque me naturalizei? Por pensar que a ditadura ia durar para sempre, e como entendi o Brasil e ele a mim, não vi inconveniente na atitude. Para mim, o Brasil traduzia o alargamento tropical das qualidades e dos defeitos dos portugueses.” [Dispersos, ed. cit., p. 117].
- O segundo, aliás, providenciou, desde logo, o envio de uma biblioteca de cerca de oito mil volumes, tendo vindo igualmente depois a apadrinhar o ingresso de Agostinho da Silva na Academia Internacional de Cultura Portuguesa – como recordou o próprio Agostinho a este respeito: “…Adriano Moreira me levou, sem dizer nada, o colar da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, por ele fundada. Foi uma das suas grandes ideias, posta de parte depois da Revolução de 25 de Abril, absurdamente, pois poderia ter um papel muito interessante no mundo, porque era uma associação de gente de todos os países, interessada em cultura portuguesa.” [Vida Conversável, ed. cit., p. 158].
- Estudos sobre o pensamento português contemporâneo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981, p. 19.
- Cf. O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra e outros textos, “Obras de José Marinho”, vol. IV, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001, p. 502.
- Filosofia: ensino ou iniciação?, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Investigação Pedagógica, 1972, p. 45.
- Cf. Filosofia portuguesa e universalidade da filosofia e outros textos, “Obras de José Marinho”, vol. VIII, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p. 553. Essa é, pelo menos, a sua “interpretação”: “…minha interpretação arranca de um sentido da filosofia nacional para uma singularidade de pensar mais autêntica e para uma universalidade mais verdadeira, filosofia [que] se não demonstra por meio de juízos e afirmações, mas por um pensamento que tenha em si próprio o cunho da autêntica universalidade (…).” [ibid., p. 352].
- Como universo textual, iremos privilegiar as suas entrevistas publicada em livro, dado que aí Agostinho da Silva muitas vezes foi mais longe, em termos de propostas, do que nos seus ensaios.
- A Via lusófona: um novo horizonte para Portugal, Lisboa, Zéfiro, 2010, 116-117.
- In NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o século XXI, nº 1, 1º Semestre de 2008, p. 61. Desenvolvemos esta perspectiva num mais número da revista: “Nos 15 anos da CPLP: a futura pátria de todos nós” [in NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o século XXI, nº 7, 1º Semestre de 2011, pp. 27-31].
- Num texto publicado no jornal brasileiro O Estado de São Paulo, com a data de 27 de Outubro de 1957, Agostinho da Silva havia já proposto “uma Confederação dos povos de língua portuguesa”. Num texto posterior, expressamente citado no prólogo da Declaração de Princípios e Objectivos do MIL: Movimento Internacional Lusófono, chegará a falar de um mesmo povo, de um “Povo não realizado que actualmente habita Portugal, a Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, o Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Timor, e vive, como emigrante ou exilado, da Rússia ao Chile, do Canadá à Austrália” [“Proposição” (1974), in Dispersos, ed. cit., p. 117].
- Perspectivas sobre Agostinho da Silva, Lisboa, Zéfiro, 2008, p. 108.
- Vida Conversável, ed. cit., pp. 156-157.
- Conversas com Agostinho da Silva, Lisboa, Pergaminho, 1994, pp. 30-31. Conforme afirmou ainda: “Fernando Pessoa dizia ‘a minha Pátria é a língua portuguesa’. Um dia seremos todos – portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, guineenses e todos os mais – a dizer que a nossa Pátria é a língua portuguesa.” [in Dispersos, ed. cit., p. 122].
- Cf. “Presença de Portugal”, in Ensaios sobre Cultura e Literatura Portuguesa e Brasileira, ed. cit., p. 139.
- In Dispersos, ed. cit., p. 171.
- Ibidem.
- Cf. “Um Fernando Pessoa”, in Ensaios sobre Cultura e Literatura Portuguesa e Brasileira, ed. cit., vol. I, p. 117.
- Details
- Revista
- Hits: 87102
António de Abreu Freire
Professor Universitário
A Europa dominou o mundo a partir do século XVI com o conhecimento, a tecnologia, a civilização e a cultura, no momento da grande expansão marítima e comercial iniciada pelos países ibéricos e continuada por holandeses, ingleses e franceses; Portugal contribuiu com uma fatia considerável de esforço para a expansão dos valores ocidentais, deixando bem marcada a sua presença tanto no Novo Mundo recém-encontrado como no Oriente, velho mundo e berço ancestral de grandes civilizações. A matemática e a geometria, a ciência astronómica, a tecnologia da instrumentação náutica, a cartografia e a arte de construção naval resultaram de contribuições inovadoras de diferentes povos europeus: judeus e muçulmanos ibéricos foram os grandes pioneiros da álgebra e da geometria, alemães e holandeses especializaram-se no fabrico de ins- trumentos náuticos e eram os melhores artilheiros das frotas, as esco- las ibéricas de cosmografia foram pioneiras na arte de mapear, enfim os armadores e especuladores financeiros exigiram dos estaleiros de construção naval embarcações seguras e eficientes para o sucesso de um comércio sem fronteiras que criou a primeira globalização. Na Ribeira das Naus, nos estaleiros de Antuérpia e de Amesterdão os carpinteiros navais criaram nas primeiras décadas do século XVI as mais sofisticadas embarcações que os armadores tinham até então lançado pelos oceanos. A expansão marítima que sustentou a primeira globalização resultou da conjugação de conhecimentos provenientes de vários cenários culturais e da partilha de inovações tecnológicas. Porém, a motivação profunda do reino de Portugal para tanto empenho era de ordem ideológica.
 Nau portuguesa do século XVI em Antuérpia, gravura flamenga da época da autoria de F. H. Bruegel.
Nau portuguesa do século XVI em Antuérpia, gravura flamenga da época da autoria de F. H. Bruegel.
No mastro de proa ostenta estandarte da cruz de Borgonha, no mastro do meio iça a bandeira portuguesa
com a esfera armilar e no mastro de mezena a bandeira da cidade do Porto.
Os soberanos ibéricos assumiram como responsabilidade própria os custos da descoberta e da expansão, aliando à ambição da riqueza dispersa por terras distantes os desejos de conter o domínio muçulmano e de difundir a fé cristã. Conquistar a Terra Santa fazia parte dos grandes objetivos imperiais e messiânicos dos reis da dinastia de Avis, servindo os interesses da igreja de Roma, assumidos como destino da nação. Desta forma, o poder religioso e as ambições da realeza encontraram nos al- vores da modernidade um terreno comum de intervenção e de interesse. A primeira façanha notável de um soberano cristão fora da Europa, quando ainda existia em terras ibéricas o Emirado Nasrida de Granada, foi a conquista de Ceuta em 1415 pelo rei D. João I de Portugal. A cidade era pequena e de pouco interesse comercial, contendo menos de 30.000 almas e uma pequena guarnição de defesa mas servia de escala estratégica e de refúgio aos corsários muçulmanos que lançavam contínuas razias pelas costas portuguesas. Até à conquista muçulmana em 709, Ceuta tinha sido cristã de obediência bizantina e depois da ocupação portuguesa continuou sendo um espaço onde cristãos, judeus e muçulmanos conviveram num clima de paz e de tolerância. Em tempos de crise de chefia da igreja católica, quando o papado se dispersou por Roma, Pisa e Avignon, o rei português optou por apoiar o papa de Roma, Martinho V, confirmado no concílio de Constança em 1417. Em recompensa pelo apoio do rei português, o papa criou nesse mesmo ano a diocese de Ceuta, passados menos de dois anos após a conquista; foi a primeira diocese cristã de obediência romana fora do território europeu, à qual se juntariam, embora com desempenhos mais discretos, a de Tânger (1468) e a de Safim (1487), até à criação da diocese do Funchal em 1515, quando o esforço da expansão portuguesa se estendia já por toda a costa atlântica e índica de África, por alguns pedaços da costa do continente americano (Brasil) e pelo Oriente até Malaca e às ilhas do Pacífico ocidental. Apesar das comunidades cristãs do norte de África serem muito reduzidas, da dimensão demográfica de pequenas paróquias, foi quanto bastasse para que a cultura latina penetrasse através do ensino sistemático do catecismo e da moral cristã, do estatuto da família, da língua, das regras comerciais, do direito e da administração territorial. Ceuta, que deixou de ser portuguesa quando os seus habitantes optaram por permanecer súbditos da coroa espanhola após a Restauração, nunca mais deixou de ser cristã até aos nossos dias nem nunca mais deixou de ser uma comunidade tolerante e aberta a outras culturas e religiões. Foi o primeiro foco e um modelo bem-sucedido de outros núcleos de difusão da cultura neolatina pelo mundo. Um sonho!
 Espaços da intervenção de Afonso de Albuquerque. (Ilustração de Sérgio Carvalho)
Espaços da intervenção de Afonso de Albuquerque. (Ilustração de Sérgio Carvalho)
As coroas de Portugal e Espanha guardaram fidelidade à igreja de Roma, mesmo nos tempos conflituosos da afirmação do poder da realeza e no reboliço dos movimentos reformadores; por isso os papas concederam aos “fidelíssimos” reis ibéricos privilégios exclusivos: um desses privilégios, o mais conhecido e badalado foi o reconhecimento da posse do mundo por descobrir e conquistar, dividindo esses espaços disponíveis pelas duas coroas. O outro foi a instituição do Padroado Real, que concedia aos soberanos o direito de criar instituições religiosas, nomear os bispos e administrar os bens da igreja pelos territórios descobertos e conquistados. O Padroado (em Espanha o Patronato Real) é anterior aos primeiros esboços do tratado de Tordesilhas, anterior mesmo ao tratado de paz de Alcáçovas (1479) quando os soberanos ibéricos se entenderam e fixaram os limites da respetiva área de intervenção atlântica; a primeira versão do Padroado português data de 1456, quando o papa Calisto III (um espanhol, Afonso Borja), pela bula Etsi Cuncti, ratificou as decisões dos seus predecessores Nicolau V (bula Romanus Pontifex, de 1455) e a bula de cruzada de Eugénio IV (bula Rex Regum de 1435). O Padroado data portanto do tempo do infante D. Henrique, quando os seus navegadores, alcançado o Cabo Verde, avançavam ao longo da costa até à Serra Leoa e golfo da Guiné. Por esses anos ainda pensavam os eruditos, apoiados nos relatos de Luís (Alvise) Cadamosto, que o rio Senegal (na fronteira da Mauritânia com o Senegal), comunicava com o rio Nilo, permitindo assim o acesso ao coração do mundo islâmico, um território considerado então como parte da “Índia”, por onde penetraria a nova “cruzada” dos cristãos latinos. A primeira igreja cristã dos trópicos, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, terá sido erguida pelos anos de 1470 na Ribeira Grande, ilha de Santiago do arquipélago de Cabo Verde, colonizado pelos portugueses a partir de 1460, reinava D. Afonso V.
 Espaço da Ação Diplomática e Expansionista de Albuquerque. (Ilustração de Sérgio Carvalho)
Espaço da Ação Diplomática e Expansionista de Albuquerque. (Ilustração de Sérgio Carvalho)
O tratado de Tordesilhas (junho de 1494) foi ratificado pelo papa Alexandre VI (outro espanhol, Rodrigo Borja, sobrinho de Calisto III) ainda antes de ser assinado pelos delegados dos soberanos dos dois países e levaria algum tempo a acertar nos detalhes da linha de demarcação oriental (foi retificado pela última vez em Saragoça em 1529, reinavam Carlos V e D. João III). Este documento projetou os dois países ibéricos para a aventura comercial e militar da expansão, apesar do pouco respeito que mereceu por parte dos demais soberanos europeus: o rei de França (François I) escarnecia perguntando pela cláusula do testamento de Adão que justificava tal partilha do mundo. Quatro anos depois do acordo de 1494 os portugueses chegavam ao continente indiano e daí catapultaram-se até ao Oriente mais distante; a empreitada comercial deu rápidos resultados e o rei português D. Manuel manifestou o seu reconhecimento ao papa através de duas vistosas embaixadas, para agradecer o apoio institucional da igreja; a primeira, recebida pelo papa Júlio II em 1506, foi comandada pelo arcebispo de Braga D. Diogo de Sousa e a segunda, a mais impressionante, riquíssima em pedras preciosas e presentes exóticos (cavalos persas, leopardos, panteras adestradas e um elefante) foi recebida pelo papa Leão X em Março de 1514, comandada por Tristão da Cunha. Em Junho desse ano, o mesmo papa criava uma nova diocese, a do Funchal, da qual ficaram a depender todos os religiosos espalhados pelos três continentes até então alcançados pela expansão colonial (a primeira diocese do Novo Mundo espanhol, foi a de Santo Domingo, criada em 1504). Os reis ibéricos faziam chegar regularmente a Roma embaixadas onde figuravam autóctones do Novo Mundo e das nações orientais, para darem a conhecer os novos aderentes à doutrina cristã e fazerem publicidade da ação empreendedora que promoviam e orientavam. O espetáculo do exotismo destinava-se a provocar a euforia e o interesse pelos territórios e povos até então desconhecidos. No Oriente, Afonso de Albuquerque lançava por sua conta e risco as bases de um verdadeiro império político e comercial, propondo ao rei uma nova estratégica militar e colonial, que não foi entendida no reino; partilhando as ideias imperialistas e messiânicas do rei D. Manuel, Albuquerque visava a conquista de Meca e até a exumação dos ossos do Profeta para os levar de Medina para Lisboa como represália. Albuquerque morreu em 1515, desacreditado e humilhado, vítima de intrigas cortesãs e de concorrentes com ambições mais voltadas para o lucro do que para a cruzada.
 Sé Catedral de Goa: Dedicada a Santa Catarina, como a primeira
Sé Catedral de Goa: Dedicada a Santa Catarina, como a primeira
ermida mandada construir por Afonso de Albuquerque aquando
da tomada da praça, em 25 de Novembro de 1510. O plano
arquitetónico é idêntico ao das catedrais portuguesas da mesma
época (século XVI).
Da diocese do Funchal desmembraram-se novas dioceses em 1533: Açores, Cabo Verde, São Tomé e a primeira diocese portuguesa do Oriente, Goa, novos focos de irradiação dos valores religiosos e morais que caracterizavam a civilização europeia. Em 1551 o papa Júlio III criava a primeira diocese portuguesa no Brasil, São Salvador da Bahia e ratificava mais uma vez o Padroado a pedido de D. João III, agregando-o à Ordem de Cristo e esta em definitivo à coroa portuguesa. (Entretanto tinham sido criadas vinte e duas dioceses na América espanhola)
A governação do espaço de influência militar e comercial portuguesa pelo Oriente passara progressivamente de Cochim para Goa, território conquistado e reconquistado por Albuquerque no ano de 1510. Governava então (em 1530) D. Nuno da Cunha, filho daquele mesmo Tristão da Cunha que comandara a embaixada ao papa em 1513/14 e o seu governo de dez anos foi o mais longo de toda a história da presença portuguesa no Oriente (1528-1538); pelo poder militar e pela temerária ousadia comercial, os portugueses impuseram-se desde Sofala, na costa de Moçambique, até à China e ao Japão, incluindo uma fatia considerável dos arquipélagos do oceano Pacífico. A conquista de Meca e o controle do Mar Vermelho deixaram de comandar os rumos das naus, mas a alternativa fixada por Albuquerque concretizava-se. Desde o início que os religiosos acompanharam os militares e os comerciantes, primeiro os franciscanos e os carmelitas, mais tarde oratorianos, agostinhos e jesuítas, entusiasmados pelo exemplo do cofundador da Companhia de Jesus, São Francisco Xavier, que chegou à Índia com mais dois companheiros na comitiva do governador Martim Afonso de Sousa, em Maio de 1542; o missionário passaria para a história do cristianismo como o Apóstolo do Oriente, tendo percorrido todo o espaço de Goa até ao Japão, numa série de viagens pioneiras que permitiram desenhar uma estratégia missionária eficiente e duradoura. Numa primeira viagem, em 1534, o comandante militar levara como médico pessoal um filho de cristãos novos já famoso no reino, chamado Garcia da Orta, que se instalou como médico em Goa, onde conviveu com Luís de Camões e onde viria a falecer em 1568. Devemos-lhe uma grande obra científica publicada em Goa em 1563, Colóquio dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia – o primeiro olhar crítico de um médico ocidental sobre as tradições curativas do oriente.
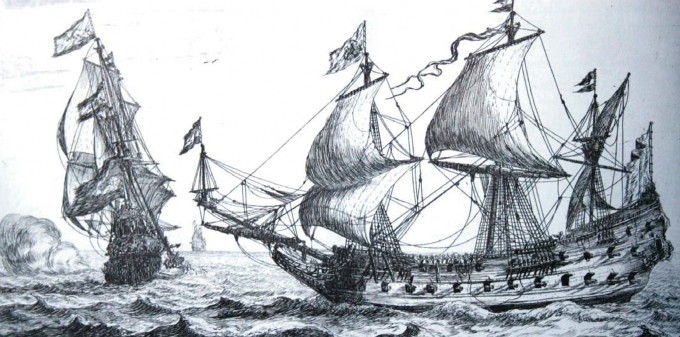 Fragatas holandesas do século XVII, gravura holandesa da época.
Fragatas holandesas do século XVII, gravura holandesa da época.
A chegada dos portugueses ao oceano Índico proporcionou desde os primeiros encontros um intercâmbio sustentado de conhecimentos. Ultrapassado o impacto inicial da desconfiança e a demonstração de força que foi necessária para garantir a abertura e o controlo do trato comercial, o que foi facilitado pela superioridade bélica dos portugueses e pela manta de retalhos dos frágeis poderes instituídos ao longo das costas da Índia, os forasteiros de imediato se interessaram por outras experiências, procurando antigas comunidades cristãs isoladas e grupos de eruditos com quem partilhar conhecimentos. Logo no regresso da primeira viagem à Índia, entre a meia centena de navegantes que desembarcaram em Lisboa sãos e salvos, vinha um piloto muçulmano culto e viajado, originário de Tunes, chamado Monçaide, que usava com maestria um instrumento mais eficaz do que o astrolábio para calcular as latitudes, a balestilha. Na viagem de Cabral os pilotos testaram a eficácia de um outro instrumento de medição de alturas trazido por Vasco da Gama, o kamal, com as respetivas tabelas dos mouros ou tabuletas da Índia. Outro personagem trazido para Portugal no regresso da primeira viagem à Índia foi Gaspar da Gama (ou das Índias), um judeu de origem polaca que serviu de intérprete nas viagens de Cabral e nas seguintes, prestando inestimáveis serviços aos pioneiros da aventura oriental. Os navegantes dos mares orientais já contavam com o apoio de cartógrafos e de pilotos experientes, conheciam com rigor os regimes das correntes e dos ventos e as rotas comerciais que cruzavam o Índico e o Pacífico ao ritmo das monções. Mercadores muçulmanos e judeus de origem ibérica e norte africana já se encontravam instalados há mais de cinco séculos pelas terras do Oriente onde agora chegavam os novos forasteiros e constituíam os principais obstáculos às pretensões comerciais dos portugueses. Porém, eram esses mesmos os mais indicados para partilhar com os recém-chegados a experiência acumulada. Os poucos cristãos encontrados faziam parte das classes mais pobres, tanto em Socotorá como em Cranganor, Coulão e Meliapor; o império fabuloso do Prestes João, que alimentara utopias durante séculos, não passava de um reino pobre e herético, encurralado entre poderosas comunidades islâmicas do continente africano. Porém, a ideologia imperial e messiânica continuava a guiar os destinos de todas as empreitadas.
A presença dominadora de Portugal impôs-se muito rapidamente e durou pouco mais de um século, se bem que as consequências deste ousado e temerário empreendimento se estenderam por mais de três séculos por todo o Oriente. Foi o resultado de uma estratégia deliberadamente construída a partir de objetivos previamente assumidos: o primeiro desses objetivos era o cerco ao domínio comercial dos muçulmanos e a destruição do Islão que, após a queda de Constantinopla em 1453, confinava a Europa num espaço comercial demasiado restrito. As bulas dos papas Nicolau V e de Calisto III foram emitidas logo nos anos seguintes à queda de Constantinopla nas mãos dos muçulmanos (1453) e por todo o espaço do Magrebe que os portugueses controlavam ao longo da costa de África, o inimigo, o concorrente e o parceiro comercial, era sempre o mesmo muçulmano. O projeto do rei D. Manuel e de Afonso de Albuquerque de controlar o Mar Vermelho para fechar por completo as rotas marítimas dos muçulmanos não se concretizou, como também não havia meios para concretizar a sedutora sugestão do Négus etíope: desviar o curso do rio Nilo a fim de arrasar o poderio do sultão do Cairo e cumprir a profecia de Ezequiel - reduzirei os canais do Nilo a um deserto… (Ez,30, 12).
A longa rota do Cabo servia os objetivos a alcançar e permitia chegar até às comunidades cristãs mais isoladas, cruzando o Índico. O poder religioso em Roma confiava na guerra de cruzada dos portugueses e na sua estratégia de expansão marítima para travar o Islão e a expansão do comércio dos infiéis, por isso os papas apoiavam sem reservas a expansão portuguesa, primeiro através dos privilégios concedidos à Ordem de Cristo e, depois da anexação da Ordem à coroa, diretamente através dos soberanos. O mito da origem divina do reino, quando o próprio Cristo terá aparecido ao primeiro rei de Portugal na véspera de uma fabulosa batalha, era tema divulgado pelo menos desde a Crónica de Portugal de 1419, retomado em 1451 (na Segunda Chronica Breve de Santa Cruz de Coimbra) e foi restaurado na Crónica de D. Afonso Henriques, escrita em 1505 a pedido do rei D. Manuel por Duarte Galvão, companheiro e amigo de Albuquerque. O tema dominava as mentes cultas e os rumos das navegações; a utopia profética do Quinto Império passou a fazer parte da história do reino. E a mesma cruz que tinha aparecido ao imperador Constantino na batalha de Ponte Mílvio no ano de 312, que visitara D. Afonso Henriques em Ourique em 1139, reapareceria milagrosamente no Índico, guiando as naus e as investidas temerárias de Albuquerque! Maktub!
 Milagre de Ourique, tela de Frei Manuel dos Reis, 1665.
Milagre de Ourique, tela de Frei Manuel dos Reis, 1665.
O segundo objetivo consistia em criar um novo espaço político e comercial na Europa, baseado na hegemonia dos soberanos fiéis a Roma, para o que era necessário garantir a estes o acesso privilegiado às fontes da riqueza disponíveis. Este objetivo só foi possível graças à combinação de duas áreas de conhecimento fundamentais: a cosmografia e o contorno do continente africano. Ambas exigiam conhecimentos teóricos e aplicações técnicas. As bases teóricas estavam há muito codificadas em tratados de astronomia que o poder de Roma olhava com suspeição, pois contrariavam os textos da Bíblia; a igreja condenava as novas teorias científicas mas permitia que os princípios fossem aplicados na prática para garantir o sucesso das navegações longínquas, porque navegar é preciso. Foi necessário esperar até 1488 para que se concretizassem as esperanças: Bartolomeu Dias achou o limite do continente africano, onde se juntavam os oceanos Atlântico e Índico, enquanto Pêro da Covilhã terminava o périplo por via terrestre até à Índia e à Etiópia, para espionar o território cobiçado, onde se imaginava que existiam cristãos, no fabuloso reino do tal Prestes João. Sem a viagem exploratória dos peregrinos Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva (este faleceu pelo caminho vítima da peste) e as informações que Pêro fez chegar ao rei D. João II, possivelmente que a viagem de Vasco de Gama não teria acontecido. Quando um navegador atrevido e experimentado, conhecido pelo nome de Cristóvão Colombo propôs ao rei de Portugal alcançar as terras de Cataio (China) e Cipango (Japão) navegando para oeste, em conformidade com a geografia do planisfério de Paolo Toscanelli (1474) e a do globo terrestre (Erdapfel, a maçã do mundo) que um explorador e companheiro de Diogo Cão, Martin Behaim, tinha exposto em Nuremberga (1491), o rei D. João II, que ignorava como os demais soberanos a existência do continente americano, já sabia que essa rota se baseava em intuições aleatórias e por isso apostou numa outra mais segura, há muito procurada e explorada pelos navegantes portugueses a um preço muito elevado para a coroa, a rota que contornava o continente africano. Depois da caminhada dos peregrinos e da viagem marítima de Bartolomeu Dias, foram necessários ainda mais dez anos de preparativos para concretizar a chegada da primeira expedição exploratória à Índia pela via marítima.
Pêro da Covilhã nunca mais regressou a Portugal, ficando por terras africanas ao serviço dos soberanos que o acolheram com curiosidade e simpatia; os portugueses retomariam contacto mais estreito com a Etiópia a partir de 1505 e o reino etíope transformou-se num polo africano de difusão de valores culturais ocidentais e latinos, incrementados a partir da ajuda militar oferecida pelos portugueses na luta contra os reinos rivais. O primeiro embaixador etíope chegou a Lisboa em 1513 e o cronista Duarte Galvão, o grande promotor da ideia do destino messiânico do reino, da versão quinhentista do Vº Império, morreu em 1517 a caminho da Etiópia, como embaixador de D. Manuel. Os primeiros missionários chegaram em 1520, ainda em vida de Pêro da Covilhã. Outra foi porém a história da fantástica e rápida expansão do comércio português a partir da Índia: desde as primeiras viagens que surgiu a ambição de alcançar outros mercados mais distantes, os da Malásia, da China e do Japão, por aquelas terras até então conhecidas como Cataio e Cipango. Os portugueses não tardaram a desembarcar em Ceilão a ilha mais cobiçada de todo o oriente (a Taprobana dos antigos). Em 1509 Diogo Lopes de Siqueira abordou a ilha de Samatra e criou os primeiros contatos comerciais que se prolongariam por noventa anos, até 1599. Avançando pelo arquipélago de Sonda alcançaram Timor, garantindo o negócio das madeiras exóticas que os chineses já dominavam séculos antes através de Malaca, em especial o do sândalo, madeira utilizada na decoração, na estatuária e na perfumaria. Pelos mesmos anos os portugueses abordaram a China nas proximidades de Macau, alcançaram a Austrália e visitaram outras ilhas do oceano Pacífico, em ousadas viagens exploratórias.
O sucesso comercial foi o suporte material da expansão cultural, em especial da difusão do cristianismo que arrastou para o Oriente novos conceitos, desde os valores familiares e os relativos à interação do indivíduo com a sociedade, ao vestuário e à alimentação, à justiça e aos direitos das pessoas, às regras sanitárias e higiénicas, até aos poderes necessários para garantir a segurança e o sucesso dos mercadores, desde a construção naval e a navegação às artes da guerra, enfim à língua, à produção de bens de consumo e às técnicas e planos da construção civil. Os valores ocidentais e latinos encontravam-se e confrontavam-se com outros valores de civilizações antiquíssimas e a religião cristã enfrentava os cultos de outras religiões profundamente enraizadas no tempo e nas mentalidades: um encontro de civilizações.
O destino escolhido para a primeira abordagem à Índia foi o porto da cidade de Calicute, o mais importante da costa do Malabar (hoje serve uma cidade com um milhão de habitantes no estado de Kerala) e a primeira sede administrativa dos negócios orientais foi a cidade de Cochim, onde se instalou o primeiro vice-rei D. Francisco de Almeida em 1505, mas a capital do espaço português no oriente (a denominada Índia Portuguesa que incluía os territórios que se estendiam de Moçambique ao extremo Oriente), instalou-se a partir de 1530 na cidade de Goa, sede do governo, ponto de encontro de civilizações (muçulmana, hindu e cristã), onde se decidiam no século XVI as estratégias do comércio, da guerra e da religião; terá chegado aos duzentos mil habitantes, era então a maior cidade da Índia, uma capital comercial, cultural e religiosa à medida do sonho de Afonso de Albuquerque. O Hospital Real, por ele fundado, foi a primeira instituição de assistência social no Oriente e o colégio de Santa Fé, edificado entre 1541 e 1544, foi o primeiro grande foco da cultura ocidental e latina, confiado aos jesuítas. Mas a cidade tão rapidamente cresceu quanto definhou e no século XVII já era apenas uma sombra do tempo da sua grandeza: a má qualidade e a corrupção dos administradores, a intolerância religiosa (a Inquisição chegou em 1560), uma imigração descontrolada de criminosos e degredados, a falta de planeamento urbano, epidemias e ocupações reduziram rapidamente a Goa Dourada, a Roma do Oriente, a uma decadente cidade de província, recheada de ruínas. Em 1655, num célebre sermão de sexta-feira santa pregado na igreja da Misericórdia em Lisboa, o padre António Vieira denunciava com a seguinte alusão: Encomendou el-rei D. João, o Terceiro, a S. Francisco Xavier o informasse do estado da Índia por via de seu companheiro, que era mestre do príncipe (D. João Manuel, pai de D. Sebastião): e o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo “rapio” na Índia se conjugava por todos os modos. (Sermão do Bom Ladrão)
Goa fora conquistada e reconquistada em 1510 por Afonso de Albuquerque. O capitão-mor e governador da Índia estendeu e consolidou o domínio português desde a ilha de Socotorá na saída do mar Vermelho, as cidades de Mascate e Ormuz, no golfo Pérsico (em 1507), até Malaca, porta de passagem obrigatória e estratégica para o oceano Pacífico, uma cidade cosmopolita que contava então 120.000 habitantes e que passou para as mãos dos portugueses em Julho de 1511. Ambicionava conquistar Meca, a cidade santa dos muçulmanos, para assegurar o controlo total do Mar Vermelho, mas a tarefa era demasiado ambiciosa para o poderio militar disponível e o governante, que não conseguiu o apoio necessário dos outros oficiais militares para os seus planos messiânicos, dirigiu definitivamente as investidas para outros objetivos quando falhou a conquista de Adém (em 1513). Foi no mar que os portugueses impuseram o seu principal domínio, graças ao poderio das frotas, obrigando todas as embarcações comerciais do oceano Índico a sujeitarem-se ao controle e às licenças (os cartazes) emitidas pelos governadores e capitães das fortalezas. Por outras cidades da Índia e em seguida pelo espaço das conquistas que de Malaca se estenderam até à China e ao Japão, os missionários entregaram-se à tarefa de construir igrejas, hospitais e colégios, outros tantos focos de irradiação da cultura ocidental e latina. Corporações religiosas e civis fundaram Misericórdias, uma criação tipicamente portuguesa que se espalhou por todo o Oriente; contavam-se mais de trinta no final do século XVII. Já ao longo do século XVI foram aparecendo dicionários e obras de divulgação religiosa e moral em sânscrito, tâmil, concani, chinês e japonês, impressas em tipografias que se instalaram a partir de 1553 em Goa e Cochim, logo de seguida em Macau e Nagasáki. Os poderes civis e religiosos mantinham uma colaboração estreita e eficiente para garantir o sucesso das respetivas empreitadas. Uns e outros estavam conscientes da vulnerabilidade por serem minoritários e emigrantes: o espaço de intervenção militar e comercial limitava-se a pequenos pedaços de orla marítima e insular distantes uns dos outros, onde o mérito e o reconhecimento do valor dos intervenientes dependiam de muitos fatores, por vezes perturbados pela intriga e a malvadez dos concorrentes. No continente, o poder Mogol impunha-se, a partir de 1520, como uma nova e emergente força política e militar de obediência islâmica sunita, consolidando o domínio do (atual) Paquistão até ao Bangladeche; a hegemonia do Grão Mogol no espaço indiano duraria desde então até à colonização britânica, que começou em meados do século XVIII através da Companhia Britânica das Índias Orientais.
Um dos governadores da fortaleza de Malaca foi Duarte Coelho Pereira, descendente bastardo do toscano Gonçalo Coelho – um dos capitães a quem o rei D. Manuel confiou o levantamento topográfico da costa brasileira em 1503, na companhia de Américo Vespucci. Duarte Coelho Pereira chegou ao oriente em 1506, foi embaixador, o primeiro português a abordar a Cochinchina (em 1523) e durante duas décadas no oriente deu provas de excelentes qualidades como militar e governante. Acompanhava Jorge Álvares nas primeiras incursões exploratórias por terras chinesas quando este faleceu em 1521 e deu-lhe sepultura junto ao padrão que o mesmo tinha erguido no refúgio clandestino da ilha de Tamão; D. João III escolheu Duarte Coelho Pereira como donatário da capitania de Pernambuco (em 1534, a Nova Lusitânia), a que teve maior sucesso em todo o Brasil. Era casado com Brites de Albuquerque, sobrinha do grande Afonso. Ainda estão de pé as ruinas da igreja de São Paulo, por ele fundada em 1512 e onde foi sepultado São Francisco Xavier. Outro dos escolhidos para donatário de duas capitanias foi o cronista João de Barros, um dos homens mais cultos e respeitados do reino, que nunca tomou posse delas, apesar de ter gasto a fortuna e ter perdido dois dos seus filhos em tentativas frustradas de colonização. Outros donatários de capitanias tinham sido militares e administradores no Oriente: Vasco Fernandes Coutinho esteve em Goa e Malaca com Afonso de Albuquerque, recebeu a capitania do Espírito Santo e lá gastou sem sucesso toda a sua fortuna; Francisco Pereira Coutinho, homem rígido e severo por terras africanas e indianas – o rusticão - perdeu tragicamente a vida na capitania que lhe coube em prémio, a da Bahia.
Os comerciantes portugueses alcançaram o Japão (que Marco Polo não visitou mas do qual teve notícias e divulgou com o nome de Cipango) ao longo do ano de 1543 e os pioneiros da façanha terão sido Fernão Mendes Pinto e os seus companheiros Cristóvão Borralho e Diogo Zeimoto, ao desembarcarem, quiçá em risco de naufrágio e sem autorização nem conhecimento do governador Martim Afonso de Sousa, numa das ilhas do arquipélago de Osumi, a de Tanegashima. A introdução da arma de fogo (o bacamarte) foi a primeira grande novidade técnica vinda do ocidente e que modificou por completo a arte e o sucesso militar naquele país que era então governado por senhores da guerra, ao jeito do feudalismo europeu medieval. Ainda nos nossos dias se comemora anualmente na ilha, com o Festival da Espingarda, esse primeiro encontro com os portugueses. A partir de 1547 os mercadores japoneses visitavam Malaca e no ano seguinte frequentavam Goa levando com eles, de regresso ao Japão, as primeiras novidades sobre o modo de vida dos forasteiros latinos. Os missionários jesuítas chegaram à cidade de Kagoshima no mesmo ano em que os seus companheiros chegaram ao Brasil, 1549. O comércio com os nanban jin, os “bárbaros do sul”, desenvolveu-se rapidamente, em menos de uma década, graças ao apoio estratégico de Macau e manteve-se por largos anos monopólio dos portugueses. Em 1581 um cartógrafo português, talvez o jesuíta Inácio Moreira, desenhava a primeira carta geográfica do Japão. Porém, a presença dos europeus em terras tão distantes e culturas tão diferentes sempre foi precária e recheada de imprevistos.
 Igreja de S. Lázaro: O início da construção desta igreja data de 1557.
Igreja de S. Lázaro: O início da construção desta igreja data de 1557.
Serviu como Sé Catedral da diocese quando esta foi criada em 1575.
A atual fachada neoclássica data do século XIX.
A fixação dos portugueses em algumas partes do continente asiático foi difícil: os espaços então sob controlo do Grão Mogol indiano (atual Paquistão, Índia continental e Bangladeche) assim como a China, resistiram à presença dos novos forasteiros apesar das tentativas que se estenderam e falharam por mais de quarenta anos. O imperador mogol só permitiu o comércio com os portugueses a partir de 1537 e a criação de feitorias permanentes em Bengala a partir de 1577; em 1580 o imperador Akbar, tolerante e afável, pediu para se encontrar pessoalmente com os padres jesuítas do padroado português (de Goa) na nova e monumental cidade de Fathepur Sikri (entretanto abandonada e atualmente património da humanidade), nas proximidades da atual cidade de Agra, a norte da Índia. Porém, nada de relevante terá resultado deste encontro para a expansão das ideias ocidentais e latinas.
Também passaram muitos anos até se chegar a um entendimento duradouro com as autoridades do império chinês. O navegador Jorge Álvares partiu de Malaca em 1513 às ordens do capitão-mor Jorge de Albuquerque e fixou um padrão clandestino em Tamão (hoje chamase Lingding, no estuário do rio das Pérolas) sem mais consequências; o embaixador Tomé Pires, naturalista e boticário real, não teve sucesso e acabou preso em 1516. A China desconfiava das intenções dos forasteiros ocidentais que somente à custa de subornos conseguiam fixar-se esporadicamente em alguns pequenos portos. O missionário São Francisco Xavier faleceu em 1552 na ilha de Sanchoão, a caminho de Cantão, exausto após mais uma tentativa frustrada de instalar arraiais em terras chinesas. O acordo entre portugueses e chineses aconteceu em 1557 e contemplava uma espécie de arrendamento de um espaço no delta do rio das Pérolas, nas proximidades de Cantão, reinava Jiajing, o 12º imperador da dinastia Ming. Nesse mesmo ano um arrojado dominicano, frei Gaspar da Cruz, vindo de Goa e Malaca, por lá iniciou a divulgação do cristianismo (deixou-nos um texto delicioso, o Tratado das Coisas da China, escrito em 1569, depois do seu regresso a Portugal). Não tardaram a chegar os franciscanos, que deixaram por todo o extremo oriente marcas duradouras da sua passagem. Frei Paulo da Trindade (1570-1651) e frei Jacinto de Deus (1612-1681), franciscanos naturais de Macau, deixaram-nos obras importantes sobre a história do cristianismo no oriente (Conquista Espiritual do Oriente e Descrição do Império da China). Os jesuítas chegaram em 1563 e a cidade de Macau foi elevada a sede de um bispado em 1575. O primeiro hospital público, o Hospital dos Pobres, uma leprosaria e a Santa Casa da Misericórdia foram obras dos jesuítas a partir de 1569. O colégio de São Paulo, dirigido pelos jesuítas a partir 1594, tornou-se rapidamente numa instituição de ensino superior donde irradiou a cultura ocidental e latina pelo espaço do império chinês. Em 1600 os portugueses instalaram um entreposto comercial na ilha de Taiwan, a que chamaram Formosa, praça perdida para os espanhóis em 1642, que logo a entregaram aos holandeses, expulsos pelos chineses em 1661. Macau foi um caso único de sucesso político, cultural e comercial; no primeiro quartel do século XVII o pequeno território possuía a mais sofisticada fundição de canhões de todo o oriente, superior às de Cochim e de Goa, a de Manuel Tavares Bocarro – hoje enriquecendo o espólio de museus militares do mundo inteiro.
A China sempre foi um espaço interdito aos estrangeiros, os chineses consideravam-se o centro do mundo e desprezavam os forasteiros, essas criaturas estranhas com hábitos de vestuário e de alimentação bárbaros e grotescos. Até ao século XIX mesmo os chineses instruídos ignoravam o nome dos principais países ocidentais, pelos quais não tinham o mínimo apreço nem ponta de curiosidade. Com a criação da República Popular da China em 1949 e sobretudo com a revolução cultural iniciada por Mao Tsétung em 1966 é que a grande maioria dos cidadãos chineses teve conhecimento, mais pela negativa, da existência de outros países, classificados como amigos ou inimigos do povo chinês. Foram muito poucos os personagens estrangeiros que ao longo do tempo conseguiram o apreço e a admiração dos chineses. A presença dos portugueses, pelo seu reduzido número e por uma atuação genericamente discreta, nunca preocupou as autoridades chinesas, mesmo se, em momentos de alguma tensão (como em Dezembro de 1966) recaíram sobre eles as mesmas depreciações que se aplicavam aos povos “imperialistas e sanguinários”, inimigos da nação chinesa. Os portugueses permaneceram em Macau até 20 de Dezembro de 1999, quando aquele espaço foi devolvido à China após quatrocentos e quarenta e dois anos de convivência pacífica.
O império português do oriente foi um projeto ambicioso imaginado por Albuquerque como um grande espaço mercantil e cultural resultante de um desígnio ideológico e profético. O governador propunha uma massiva miscigenação de portugueses com mulheres indianas (os casados, denominação que ficou por séculos), criando uma população aculturada que servisse de apoio à empreitada comercial e política, uma verdadeira colonização, mas os nobres do reino recusavam a ideia de uma raça de mestiços que porventura pudesse ofuscar a dignidade e a qualidade da utópica pureza lusitana que estava na moda – o peito ilustre lusitano. A intolerância predominante no reino foi certamente o principal obstáculo à convivência pacífica entre portugueses, hindus e muçulmanos no outro lado do mundo. Albuquerque adoptou uma política de tolerância com hindus e muçulmanos, criando relações pacíficas com os maiores comerciantes do Oriente, mas a atitude conciliadora do governante com os muçulmanos xiitas não foi entendida no reino, antes fortemente contrariada pelos interesses particulares dos demais protagonistas que não partilhavam o ideal messiânico. A ideia não vingou; o império oriental manteria como modelo um projeto comercial agressivo, por onde a ambição não tinha regras nem limites e as empreitadas sucederam-se, por entre tragédias e sucessos. A pouca gente portuguesa (no reino contavam-se em 1527 pouco mais de um milhão e duzentas mil almas), muito disseminada pelo vastíssimo espaço da orla marítima oriental, sempre foi uma minoria tão vulnerável quanto arrogante e a intolerância foi dos maiores obstáculos à manutenção do império. A corrupção, a indisciplina, o enriquecimento ilícito, o nepotismo, o roubo e a ganância, pirataria, pilhagem, massacres de inocentes e vinganças, uma escravatura desregrada, sobretudo o fanatismo e a intolerância, ultrapassaram todos os limites e transformaram a epopeia num pesadelo, a cruzada em corso, os heróis em bandidos. O tribunal da Inquisição de Goa condenou à fogueira a irmã de Garcia da Orta em 1569, no ano seguinte ao da morte do médico e mandou exumar os restos mortais dele, que se encontravam sepultados na sé de Goa, para os queimar num aparatoso auto-da-fé em 1580. Os recursos humanos eram demasiado exíguos, fracos e sem virtude para manter honradamente um tão vasto império. O recurso à violência e ao espetáculo do terror piorou os resultados. Estas tristes exibições ocidentais e latinas foram porventura a imagem mais negativa de toda a presença portuguesa no Oriente. D. João III abandonara o norte de África para acudir às necessidades de investimento num comércio muito mais rentável, mas a fasquia tinha sido colocada demasiado acima das capacidades e da qualidade dos concorrentes. Em 1549 a feitoria portuguesa na Flandres, fundada em 1445, que se tinha mudado de Bruges para Antuérpia em 1499 e por onde se escoavam as mercadorias mais valiosas de África e da Índia, tinha fechado as portas. No último quartel do século XVI, quando o comércio português do Oriente começou a desmoronarse, a Espanha estava no auge do seu poder financeiro, com a abundância de ouro e prata que os galeões das Américas descarregavam em Sevilha. Porém, outras potências europeias emergentes cobiçavam os recursos da península ibérica arrogante, unificada pela mesma coroa a partir de 1580. No final do século XVI concediam-se em Goa graus académicos em artes, direito e teologia, mas também em medicina e cosmografia. O mesmo acontecia em Macau. Imprimiam-se livros em Goa, Cochim, Macau e Nagasaki, o que só viria a acontecer no Brasil no primeiro quartel do século XIX. Porém, o sucesso do intercâmbio cultural não sustentou a fraqueza militar, política e comercial.
A utopia e a ação de Albuquerque, que geriu os interesses portugueses no Oriente com atitude enérgica e o poder de um príncipe maquiavélico, inspiraram ambições e arrojadas iniciativas comerciais durante pouco mais de um século. Quando os holandeses e os ingleses, no primeiro quartel de seiscentos, com as suas companhias de comércio das Índias Orientais, se apoderaram dos espaços portugueses no Oriente, o império abandonava a competição. A perda de Ormuz às mãos dos ingleses e dos holandeses em Fevereiro de 1626 marcou o fim do domínio português nos mares orientais e o da hegemonia marítima nos demais oceanos. Passados poucos anos, restavam sobras de somenos importância. A coroa francesa nunca investiu em projetos de descoberta, deixando as iniciativas aos armadores particulares, mas em 1664 o poderoso e inovador ministro do rei francês Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, decidiu imitar os holandeses e os ingleses criando também uma Companhia das Índias Orientais, para tomar conta, com relativo sucesso, das poucas fatias apetitosas que ainda sobravam.
Passaram de meia centena as possessões e fortalezas portuguesas espalhadas pela península Arábica, Índia, Malásia, China e Japão, onde Portugal exercia plena soberania, sem contar as muitas feitorias e assentamentos comerciais onde não havia ostensiva presença militar (enumeradas no Livro das Plantas de todas as fortalezas, cidades e povoações do Estado da Índia Oriental, de António Bocarro, enviado ao rei Filipe III em 1635). Oliveira Martins precisa: Em certos pontos, como no Malabar e em Malaca, onde a política de Albuquerque levara à constituição de cidades portuguesas, havia propriamente Governo e Estado: uma colónia, no sentido comum da palavra. Mas tais exemplos eram exceções; a regra era a existência de uma fortaleza dominando uma cidade indígena, cobrando as páreas dos sultões da terra, e abrigando os navios que aí iam comerciar.
O comércio do oriente fez de Lisboa uma das maiores cidades da Europa: 100.000 habitantes em 1550, 250.000 no final do século XVI, (decrescendo para 165.000 habitantes em 1619). Só durante o reinado de D. Manuel zarparam de Lisboa para a Índia duzentas e trinta e sete naus. A rua dos Mercadores de então era o terreiro de uma verdadeira globalização, com gente de toda a Europa, de todas as raças e crenças, no meio de uma euforia provocada pelo exotismo das mercadorias e a ânsia da fortuna. Porém, depois do longo cerco de Goa pelos holandeses (1639), da perda de Malaca (1641) e de Ceilão (1657), da entrega de Negapatão (1658), da cedência de Bombaím aos ingleses como parte do dote do casamento de D. Catarina de Bragança com Carlos II (1662), o denominado império português do oriente declinou muito rapidamente. No final do primeiro quartel do século XVII pouco restava também do esforço dos cento e quarenta e dois jesuítas (dos quais setenta e um autóctones), de uma centena de franciscanos e algumas dezenas de dominicanos infiltrados na China e Japão, entusiasmados pelo sucesso comercial dos primeiros investidores e pela empreitada louca de São Francisco Xavier. Em 1650 os últimos padres foram expulsos do Japão e os cristãos resistentes passaram a viver na clandestinidade. O último bispo efetivo do Japão faleceu em 1625 e o último nomeado por D. João IV, o jesuíta André Fernandes, nunca chegou a ser confirmado pelo papa nem pisou terras nipónicas; a diocese (de Funai) já tinha sido extinta à data da sua nomeação. Faleceu em Lisboa em 1660.
 Mapa-mundi oferecido pelo padre Matteo Ricci ao imperador da China.
Mapa-mundi oferecido pelo padre Matteo Ricci ao imperador da China.
O catolicismo, através do qual se divulgou por mais tempo e mais intensamente a cultura ocidental e latina, não entrou no Oriente por iniciativa dos portugueses: tanto os primeiros franciscanos que acompanharam as viagens de Gama e de Cabral, como Xavier e os jesuítas nas ousadas investidas pela China meio século depois, já lá encontraram cristãos de longa data e tradição. Porém, a partir da intervenção dos missionários portugueses, através do Padroado da Ordem de Cristo, nunca mais deixou de haver continuidade na presença cristã pelo Oriente. Logo em 1510 havia um bispo, titular de Laodiceia, o dominicano D. Duarte Nunes, nomeado para o espaço do cabo da Boa Esperança até à Índia oriental, que se instalou em Goa em 1520. Quando o poder político se desmoronou, os valores culturais mantiveram-se sólidos e a igreja católica continuou a sua expansão sem o suporte comercial e militar que de início a protegeu. O recinto do Vaticano exibia esse sucesso, no tempo do último papa renascentista, Alexandre VII (reinou de 1655 a 1667), com a inauguração da monumental colunata de Bernini a simbolizar o poder e o sucesso da igreja dominando e protegendo o mundo. As nove dioceses católicas orientais do Padroado Português estendiam-se no século XVII até à China e ao Japão e na África oriental tinha a diocese da Etiópia (1555) e a de Moçambique (1612). Para além do poderoso espólio religioso presente até aos nossos dias por todo o Oriente, a língua portuguesa e a cultura neolatina infiltraram-se nas principais culturas orientais, todas elas exibindo até hoje nos seus vocabulários fonemas de origem portuguesa, assim como no quotidiano de pequenas comunidades que ainda falam dialetos do português, na identidade das pessoas, nos trajes e costumes tradicionais, nos nomes das embarcações de pesca da Malásia e da Indonésia, nas festas populares, na cor da pele dos descendentes de portugueses.
Os missionários portugueses, primeiro os franciscanos, depois os dominicanos, os agostinhos, os oratorianos e finalmente os jesuítas, vieram reacender no Oriente uma fé residual, obra de outros missionários muito mais antigos e quase esquecidos, criando novas estruturas religiosas, igrejas, conventos, hospitais e colégios que se ergueram para durar muito para além das empreitadas dos comerciantes e dos militares. Mais ousados que os comerciantes, eles foram autênticos bandeirantes desafiando todos os perigos para alcançar os povos mais distantes, muito longe da proteção dos outros intervenientes: eles alcançaram civilizações tão isoladas como as do Tibete, do Nepal e do Butão. No primeiro quartel do século XVII, o jesuíta António de Andrade, chegado a Goa em 1600, foi o primeiro europeu a atravessar as neves perpétuas do Himalaia e a fundar uma missão no Tibete em 1626. O padre Estêvão Cacella alcançou o reino do Butão e lá fundou uma missão no ano seguinte. Outros missionários, como o jesuíta João de Brito (1647-1693), empreenderam ações missionárias e sociais junto dos mais pobres e segregados da Índia, em Madurai, longe de qualquer interesse comercial e de qualquer proteção militar. O padre oratoriano José Vaz, um brâmane natural de Goa (1651-1711), dedicou vinte e três anos de apostolado à comunidade católica de Ceilão durante o período do domínio holandês; beatificado pelo papa João Paulo II em 1995, foi canonizado pelo papa Francisco em Janeiro de 2015. O papa Pio IX tinha canonizado em 1862 o franciscano Gonçalo Garcia, natural de Baçaim, filho de pai português e de mãe indiana, martirizado em Nagasaki em 1597. João de Brito foi canonizado pelo papa Pio XII em 1947.
A persistência da religião cristã permitiu a continuidade da influência linguística e cultural nas suas formas mais duradouras. Até ao final do século XVIII o português era ainda a principal língua comercial por todo o oriente. Há uma dezena de anos ainda se publicava em Ceilão um jornal em crioulo de português, mantido por uma igreja cristã. São doze os crioulos indo-portugueses identificados e cinco os crioulos malaio-portugueses, a maioria deles quase extinta. O papiá kristáng, um dialeto de origem portuguesa com mistura de fonemas malaios e chineses, ainda é falado por mais de cinco mil cidadãos em Malaca e Singapura e por mais alguns milhares dispersos por comunidades migrantes na Austrália e em Inglaterra. Um crioulo similar ainda subsiste como língua única dos seus utilizadores em Chaul, o kristí, dialeto da comunidade cristã de Korlai utilizado por um milhar de pessoas a sul de Bombaim, onde a presença portuguesa durou até 1740. Os últimos redutos do domínio português até ao século XX, os espaços do antigo Estado Português da Índia, mais os de Macau e de Timor, contribuíram grandemente para a continuidade da língua, mesmo que residual. Cerca de metade da população do atual estado de Goa (que é de um milhão e quinhentos mil habitantes) continua católica e a língua portuguesa, apesar de muito minoritária em relação às línguas concani e marata e mesmo ao inglês, ainda é falada por centenas de famílias. O diário O Heraldo foi publicado em português até 1983. Só como exemplos da permanência do padroado português pelo oriente, basta recordar que até 1847 os bispos da diocese chinesa de Pequim eram portugueses, até 1868 os bispos da diocese de Malaca e Singapura eram portugueses, como os bispos de Meliapor e de Cochim até 1951. D. António Barroso, bispo do Porto, um prelado que teve relevante intervenção nos primeiros tempos da República, tinha sido bispo de São Tomé de Meliapor. A igreja de São José em Singapura, construída na primeira década do século XX, ostenta na sua decoração o escudo português. A língua portuguesa é atualmente um dos três idiomas da República da Maurícia, um arquipélago habitado por um milhão e trezentas mil almas, situado a leste de Madagáscar, encontrado pelos portugueses em 1505.
Em Goa Velha, estão de pé e abertas ao público a sé catedral, as igrejas do Rosário, do Bom Jesus e de São Francisco, todas erguidas no século XVI. Em Macau subsistem as igrejas de São Lázaro, de Santo António e de São Lourenço, originalmente da mesma época. As ruinas da igreja do colégio de São Paulo são património da humanidade. Por muitos outros espaços do que foi o sonhado império português do Oriente resistem ao tempo vestígios eloquentes do que foi a obra do Padroado português, em especial a da atuação dos padres da Companhia de Jesus. Eles não foram os primeiros missionários portugueses no Oriente, mas foram os mais ousados e destemidos na propagação do cristianismo, seguindo o exemplo de São Francisco Xavier. O padre Francisco de Sousa escreveu em 1707 a história da grande bandeira dos jesuítas pelo Oriente em dois volumes, desde a chegada dos pioneiros até 1585: Oriente Conquistado a Jesus Cristo pelos padres da Companhia de Jesus da Província de Goa. Franciscanos, dominicanos e oratorianos seguiram de perto as investidas ousadas e muitas vezes temerárias dos missionários da Companhia de Jesus.
Um dos personagens mais relevantes da implantação da cultura ocidental e latina na China foi o jesuíta Matteo Ricci (1552-1610), cientista, matemático e cartógrafo, o primeiro europeu a criar um intercâmbio científico e cultural com o Oriente ao mais alto nível, entre os intelectuais e junto da corte imperial chinesa. Ricci formouse em Itália e veio para Portugal em 1577, aos vinte e cinco anos, para aperfeiçoar os conhecimentos de português na Universidade de Coimbra. Partiu para Goa em 1578, integrado nas missões jesuíticas do padroado português e foi ensinar latim e grego no colégio de Cochim (hoje a maior aglomeração urbana do estado de Kerala, no sul da Índia), enquanto estudava teologia, para vir a ser ordenado sacerdote em 1580. Em 1582 foi enviado para Macau (a diocese tinha sido fundada em 1575, desmembrada da de Malaca), a fim de aprender a língua chinesa e no ano seguinte, juntamente com outro missionário o padre Miguel Rugieri, fundava a primeira missão na China, em Zhaoqing, dependente do colégio dos jesuítas de Macau. O colégio Madre de Deus, fundado na origem pelos franciscanos viria a ser, a partir de 1594, com o nome de colégio de São Paulo e já sob a tutela dos jesuítas, uma instituição de altíssima qualidade: aí se ensinava filosofia, teologia, matemática, geografia, astronomia, latim, português, música e artes, uma verdadeira instituição de ensino superior, foco de difusão da cultura ocidental por terras chinesas e dos seus aliados.
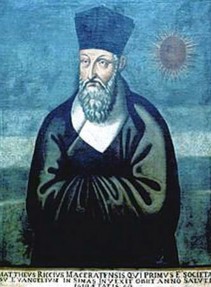 O jesuíta Matteo Ricci adotou os
O jesuíta Matteo Ricci adotou os
hábitos e costumes dos letrados
chineses para melhor dialogar
com os seus interlocutores. Foi
o primeiro europeu a construir
um observatório astronómico
na China.
Ricci adotou os hábitos e os costumes do país, a indumentária dos altos fun- cionários e dos letrados, entusiasmouse pela cultura chinesa, estudou-a e divulgou-a. Os franciscanos, os primei ros missionários católicos do Oriente, assim como são Francisco Xavier, tentaram de início a abordagem catequética através de uma imagem de simplicidade e de pobreza, o que não teve sucesso na China nem no Japão; rapidamente entenderam que a nova doutrina teria que se impor como uma ideologia de homens cultos e bemsucedidos, respeitados e generosos, capazes de seduzir o povo pelo sucesso pessoal e pela autoridade que tinham sobre ele. Em 1589 Matteo Ricci introduziu o calendário gregoriano na China e em 1594 traduziu para latim os quatro livros do Cânone do Confucionismo, permitindo pela primeira vez o acesso dos ocidentais à filosofia de Confúcio (551-479 ac).
Nesse mesmo ano o jesuíta decide viajar até Pequim, para junto do poder central da China, mas fica-se por Nanchang (hoje uma cidade com dois milhões de habitantes, capital da província de Jiangxi), onde intensifica os contatos com intelectuais chineses e escreve em 1595, em chinês, o Tratado sobre a Amizade, para dar a conhecer aos chineses a sabedoria ocidental, livro que teve um imenso sucesso entre os intelectuais. No ano seguinte escreve o Método de Aprender de Cor, um tratado sobre a memória e um método para aprender a memorizar a tradição oral segundo a lógica ocidental e publica ainda um catecismo mais elaborado intitulado Verdadeira Noção de Deus. Finalmente chega a Nanquim em 1598, já nomeado superior dos jesuítas na China e em 1600 está em Pequim, sendo recebido pelo imperador no ano seguinte. O encontro era vital para a fixação dos jesuítas na China e os missionários que acompanhavam Ricci ofereceram quantidade impressionante de presentes ao imperador Wanli (o 14º da dinastia Ming), qual deles o mais maravilhoso e original, mas o que mais impressionou o soberano foi um mapa-mundi desenhado pelo próprio Ricci, que mostrava pela primeira vez a China “no meio” das outras nações do planeta. Os chineses sempre consideraram o seu país como “o centro” do mundo e o presente, vindo de um estrangeiro, entusiasmou o imperador.
Os jesuítas foram autorizados a construir uma residência, a abrir colégios e divulgar a cultura cristã, para o que até beneficiaram da generosidade imperial. Em 1605 Matteo Ricci estabeleceu contatos com a comunidade judaica local e iniciou a tradução para chinês dos Elementos de Euclides, permitindo assim aos chineses o acesso ao método da lógica dedutiva, à álgebra e à geometria ocidentais. Traduziu para chinês as principais orações do ritual católico e os princípios da moral cristã, auxiliado pelos padres portugueses que, em proveniência de Macau e de Goa, reforçaram a presença católica no império chinês. Em 1607 tentou socorrer o confrade Bento de Góis, que terminava uma das maiores aventuras de que há memória: o caminho por terra de Goa a Pequim, qualquer coisa como cinco mil quilómetros de carreiros. Exausto e doente, o jesuíta açoriano (nasceu em Vila Franca do Campo) não resistiria ao esforço e aos percalços da caminhada e morreu aos quarenta e cinco anos sem alcançar o destino, na cidade de Suzhou, a meio caminho entre Macau e Pequim. Nos últimos anos de vida, entre 1608-1610, Ricci redigiu a sua obra mais famosa e compêndio de referência para todos quantos pretendiam conhecer a China: A Entrada da Companhia de Jesus e do Cristianismo na China. Faleceu aos cinquenta e sete anos e o imperador autorizou que fosse sepultado em solo chinês, privilégio raro, já que os estrangeiros que faleciam na China tinham que ser enterrados fora do território (eram transladados para Macau). A comunidade cristã por ele formada cresceu sobretudo entre as elites intelectuais, ultrapassando os dois mil e quinhentos batismos. Ele é considerado pelos chineses um dos mais notáveis e brilhantes homens da história, o mestre do grande ocidente. No Museu da História da China, em Pequim, um dos maiores e mais extraordinários do mundo, só dois ocidentais mereceram figurar entre os grandes construtores do império: Marco Polo e Matteo Ricci.
O padre João Rodrigues, natural de Sernancelhe (1560-1633), embarcou para o Oriente muito jovem, pelos catorze anos e lá ingressou na Companhia de Jesus; fez os estudos de filosofia e teologia no colégio jesuíta de Nagasaki, foi ordenado padre em Macau e tornou-se um dos maiores conhecedores ocidentais da língua japonesa. Ele compôs o primeiro dicionário japonês-português (1603) e escreveu a primeira gramática da língua japonesa (1604). Para além de escrever uma história do cristianismo no Japão, que não é apenas uma história de religião mas uma verdadeira enciclopédia da cultura nipónica, o padre foi também comerciante, diplomata, político e intérprete junto dos estrangeiros que demandavam o país do sol nascente. A carreira promissora do padre terminou em 1610, no momento de um incidente infeliz com a nau do trato Nossa Senhora da Graça, também conhecida como Madre de Deus, destruída pelos japoneses na baía de Nagasaki, depois de um incidente mal resolvido em Macau. Em retaliação pela morte de soldados e marinheiros japoneses, a maioria dos padres foi expulsa do Japão e o comércio declinou. A presença dos missionários portugueses em Nagasaki terminou em 1639 e a história da vida deste jesuíta inspirou o romance Shogun de James Clavell, que deu origem à série televisiva e ao filme com o mesmo nome em 1980.
Outro jesuíta que desempenhou um papel preponderante na China foi o padre Tomás Pereira (1645-1708), natural de Famalicão, que chegou a Goa com o vice-rei D. João Nunes da Cunha em 1666, ainda noviço, aos vinte e um anos, onde completou os estudos seguindo depois para Macau em 1672. Músico, astrónomo, matemático e diplomata, frequentava desde 1680 a corte do imperador Kangxi (o terceiro da dinastia Qing) e fez parte da delegação chinesa que assinou em 1689 o primeiro tratado de paz com uma nação europeia, a Rússia de Pedro I o Grande, soberano que modernizou e abriu o seu país à influência ocidental. O jesuíta introduziu na China a música erudita europeia, construiu o primeiro órgão de tubos e montou o primeiro carrilhão numa igreja chinesa. Apesar de ter desempenhado a sua ação já numa fase decadente do poder económico e cultural português no oriente, o seu contributo para o intercâmbio cultural com a China foi brilhante, no tempo do reinado do mais extraordinário imperador de toda a história chinesa.
Franciscanos como frei Paulo da Trindade e frei Jacinto de Deus, nascidos em Macau, foram notáveis divulgadores da ação missionária dos portugueses pelo oriente, em especial os das diferentes custódias da ordem a que pertenciam, pioneira na evangelização, já que desde as primeiras viagens à Índia foram os frades menores quem asseguraram o apoio religioso às frotas e aos primeiros núcleos de emigrantes. O choque cultural com as tradições chinesas provocou graves desentendimentos entre os missionários das diversas ordens religiosas e originou intervenções intempestivas do governo da igreja romana, o que levou por várias vezes à interdição temporária da prática cristã.
O cristianismo continuou na China através da intervenção dos padres franceses, até que em 1834 as dioceses chinesas foram desvinculadas do padroado português, restando somente Macau, donde tinha irradiado o cristianismo para todo o território chinês e da qual dependia também a igreja de Timor até à criação da primeira diocese em Dili (1940), por insistência das autoridades portuguesas no ano da grande exposição do mundo português e da comemoração dos oitocentos anos da nacionalidade. A diocese de Macau, que mantém atualmente uma universidade (Universidade de São José) em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, depende hoje diretamente da Santa Sé e conta cerca de vinte e nove mil fiéis espalhados por nove paróquias e missões. A China conta hoje cerca de um milhão e meio de católicos, um número muito reduzido dada a dimensão demográfica chinesa, aproximadamente o mesmo número de cristãos que em Ceilão (mas o Sri Lanka tem vinte milhões de habitantes e a China conta cerca de mil e trezentos milhões). Existem duas arquidioceses (Pequim e Nanquim) e duas dioceses (Hong Kong e Macau). No Japão contam-se atualmente cerca de meio milhão de católicos numa população de cento e vinte e cinco milhões e meio de habitantes. O país tem três arquidioceses (Tóquio, Osaka e Nagasaki) e catorze dioceses, algumas com menos de cinco mil aderentes. A génese e a continuidade desta presença cristã pelo oriente até aos nossos dias é indissociável da ação pioneira dos missionários portugueses e do padroado ultramarino. A primeira diocese chinesa foi a de Macau, criada em 1575 e a primeira diocese japonesa foi a de Funai, criada em 1588 (extinta em 1625 e restaurada como arquidiocese de Tóquio em 1891).
A presença portuguesa no oriente fez-se ao ritmo de um tremendo frenesim, sempre em guerra contra alguém, reformulando a cada oportunidade novas estratégias diplomáticas e comerciais, com milhares de navios costeiros, fustas, paraus e juncos correndo as costas e com centenas de naus pelas grandes rotas do Atlântico, do Índico e do Pacífico, de Lisboa ao Japão, dando nova vida a meia centena de cidades, feitorias e entrepostos que se conquistavam e se perdiam por vezes ao sabor das monções. Os mais ousados cidadãos do reino lá encontraram o espaço ideal para exibir valor e satisfazer ambições. Outros menos felizes perderam-se sem deixar rastos. Quantos foram e voltaram? Quantos por lá ficaram? Ninguém jamais calculou quantos morreram em viagem nem quantos a guerra e a morte mataram. No meio de tanta guerra e confusão, os missionários conseguiram ressuscitar antigas comunidades cristãs e implantar novas estruturas que duram até aos nossos dias. A nossa história conta muitas miudezas e alguns momentos de glória – momentos sublimes de grandeza. A aventura oriental, que nasceu de um projeto profético assumido e que criou riquezas pessoais fabulosas, foi desastrosa financeiramente para o reino mas, como escreve Oliveira Martins, a nossa ruina foi o preço do maior ato da ci- vilização nos tempos modernos.
O maior génio da nossa identidade, o padre António Vieira, um mestiço irreverente, no meio do maior descalabro da nação, pregando em Roma na década de 70 do século XVII, imaginava ainda para os portugueses nada menos que o Vº Império do mundo e apregoava nos púlpitos da capital da cristandade que o planeta se tornara uma Feira Universal (expressão emprestada ao cronista João de Barros), qual Nova Malaca, cosmopolita e tolerante, no início de uma era de riqueza e de felicidade. O pregador augurava mais uma vez o reino consumado de Cristo, mil anos depois de um Apocalipse atribuído ao bispo Metódio de Olimpos o ter profetizado sob o poder de um soberano bizantino e etíope, imperador dos últimos dias, dominador do Islão e libertador de Jerusalém – o qual, após ter cumprido a missão profética, renunciaria à coroa. O rei amigo do pregador, que ocuparia o trono do Vº Império depois de ressuscitado conforme as mesmas profecias, já renunciara à coroa, para si e seus sucessores, havia vinte e cinco anos. Que faltaria então para que se cumprissem as profecias?
A língua portuguesa, diferenciada da galega a partir de 1290, quando Dinis a impôs como idioma oficial da corte e da administração do reino, consolidou-se em 1516 com a publicação do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende e normalizou-se com as gramáticas de Fernão de Oliveira (1536) e de João de Barros (1540). A consolidação e normalização da língua aconteceram ao mesmo tempo que ela se disseminava pelos novos espaços onde os portugueses assentavam arraiais no século de ouro da expansão marítima, comercial e cultural. Permeável às influências linguísticas e fonéticas dos povos agregados, a língua assimilou quantidade impressionante de fonemas que a enriqueceram e globalizaram, enquanto fornecia às outras línguas novas sonoridades, num intercâmbio de exotismo sustentado e duradouro, numa diluição dinâmica e interativa. Surgiram mais de trinta idiomas crioulos de origem portuguesa (muitos extintos) por espaços continentais e arquipélagos da América, África, Índia, Malásia e China. Com a língua viajaram, nos rumos de ida e de torna-viagem, mitos e virtudes de civilizações diferenciadas, valores que se tornaram globais e talvez seja essa universalidade que anuncia hoje a alvorada de um sonhado e profetizado Vº Império. A euforia não terminou, nem a pátria se perdeu. O sonho continua.
Bibliografia
- Albuquerque, Luís de (direção de), Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses (2 vols). Caminho, Lisboa, 1994.
- Álvares, Francisco, Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias. INCM, Lisboa, ed. facsimile, 1989.
- Barros, João de, Ásia. Dos feitos que os Portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. (Décadas da Ásia). Ed. Livraria S. Carlos, Lisboa, 1973/1975.
- Bocarro, António, Livro das Plantas de todas as fortalezas cidades e povoações do Estado da Índia Oriental (3 vols). INCM, Lisboa, 1992.
- Bouchon, Geneviève, Afonso de Albuquerque. O leão dos mares da Ásia. Quetzal, Lisboa, 2ª ed., 2000.
- Boxer, Charles Ralph, A Igreja e a Expansão Ibérica. Ed. 70, Lisboa, 1989.
- Boxer, Charles Ralph, A Índia Portuguesa em meados do século XVII. Ed. 70, Lisboa, 1982.
- Castanheda, Fernão Lopes de, História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses. Ed. M. Lopes de Almeida, Porto (2 vols), 1979.
- Correia, Gaspar, Lendas da Índia (4 vols). Ed. M. Lopes de Almeida, Porto, 1975.
- Cortesão, Armando, A Suma Oriental de Tomé Pires e o Livro de Francisco Rodrigues. Universidade de Coimbra, 1978.
- Cortesão, A. e Teixeira da Mota, A., Portugaliae Monumenta Cartographica. INCM, Lisboa, 5 vols, 1960.
- Cortesão, Jaime, História da expansão portuguesa. INCM, Lisboa, 1993.
- Couto, Diogo do, Ásias. Dos feitos que os Portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente (Décadas da Ásia). Ed. Livraria S. Carlos, Lisboa, 1973/1975.
- Gaspar da Cruz, frei, Tratado das Coisas da China. Lisboa, Cotovia, 2010.
- Mendes Pinto, Fernão, Peregrinação. INCM, Lisboa, 1998.
- Oliveira Martins, Joaquim Pedro de, Portugal nos Mares. Guimarães editores, Lisboa, 1994.
- Peixoto de Araújo, Horácio, Os Jesuítas no Império da China - O Primeiro Século (1582-1680). Instituto Português do Oriente, Macau, 2000.
- Queiroz sj, Fernão de, Conquista temporal e espiritual de Ceilão. Ed. P.E. Pieris, Colombo, 1916.
- Ribeiro, João, Fatalidade Histórica da Ilha de Ceilão. Ed. Alfa, Lisboa, 1989.
- Silva Rego, António da, Documentação para a história das missões do Padroado Português do Oriente (Índia) (12 vols). Agência Geral das Colónias, Lisboa, 1947/1958.
- Sousa, padre Francisco de, Oriente Conquistado a Jesus Cristo pelos padres da Companhia de Jesus da Província de Goa. Lello & Irmão, Porto, 1978.
- Silva Rego, António da, O Padroado Português do Oriente. Esboço Histórico. Agência Geral das Colónias, Lisboa, 1940.
- Teixeira, padre Manuel, Macau no século XVII. Dir. dos Serviços de Educação e Cultura, Macau, 1982.
- Trindade, frei Paulo da, Conquista Espiritual do Oriente. Centro de Estudos Ultramarinos, Lisboa, 1962.